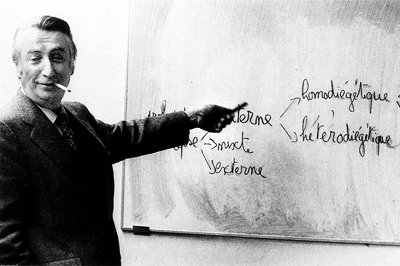Por: Sigmund Freud
Nós, leigos, sempre sentimos uma intensa curiosidade - como o Cardeal que fez uma idêntica indagação a Ariosto - em saber de que fontes esse estranho ser, o escritor criativo, retira seu material, e como consegue impressionar-nos com o mesmo e despertar-nos emoções das quais talvez nem nos julgássemos capazes. Nosso interesse intensifica-se ainda mais pelo fato de que, ao ser interrogado, o escritor não nos oferece uma explicação, ou pelo menos nenhuma satisfatória; e de forma alguma ele é enfraquecido por sabermos que nem a mais clara compreensão interna (insight) dos determinantes de sua escolha de material e da natureza da arte de criação imaginativa em nada irá contribuir para nos tornar escritores criativos.
Se ao menos pudéssemos descobrir em nós mesmos ou em nossos semelhantes uma atividade afim à criação literária! Uma investigação dessa atividade nos daria a esperança de obter as primeiras explicações do trabalho criador do escritor. E, na verdade, essa perspectiva é possível. Afinal, os próprios escritores criativos gostam de diminuir a distância entre a sua classe e o homem comum, assegurando-nos com muita freqüência de que todos, no íntimo, somos poetas, e de que só com o último homem morrerá o último poeta.
Será que deveríamos procurar já na infância os primeiros traços de atividade imaginativa? A ocupação favorita e mais intensa da criança é o brinquedo ou os jogos. Acaso não poderíamos dizer que ao brincar toda criança se comporta como um escritor criativo, pois cria um mundo próprio, ou melhor, reajusta os elementos de seu mundo de uma nova forma que lhe agrade? Seria errado supor que a criança não leva esse mundo a sério; ao contrário, leva muito a sério a sua brincadeira e dispende na mesma muita emoção. A antítese de brincar não é o que é sério, mas o que é real. Apesar de toda a emoção com que a criança catexiza seu mundo de brinquedo, ela o distingue perfeitamente da realidade, e gosta de ligar seus objetos e situações imaginados às coisas visíveis e tangíveis do mundo real. Essa conexão é tudo o que diferencia o ‘brincar’ infantil do ‘fantasiar’.
O escritor criativo faz o mesmo que a criança que brinca. Cria um mundo de fantasia que ele leva muito a sério, isto é, no qual investe uma grande quantidade de emoção, enquanto mantém uma separação nítida entre o mesmo e a realidade. A linguagem preservou essa relação entre o brincar infantil e a criação poética. Dá [em alemão] o nome de ‘Spiel‘ [‘peça’] às formas literárias que são necessariamente ligadas a objetos tangíveis e que podem ser representadas. Fala em ‘Lustspiel‘ ou ‘Trauerspiel‘ [‘comédia’ e ‘tragédia’: literalmente, ‘brincadeira prazerosa’ e ‘brincadeira lutuosa’], chamando os que realizam a representação de ‘Schauspieler‘ [‘atores’: literalmente, ‘jogadores de espetáculo’]. A irrealidade do mundo imaginativo do escritor tem, porém, conseqüências importantes para a técnica de sua arte, pois muita coisa que, se fosse real, não causaria prazer, pode proporcioná-lo como jogo de fantasia, e muitos excitamentos que em si são realmente penosos, podem tornar-se uma fonte de prazer para os ouvintes e espectadores na representação da obra de um escritor.
Existe uma outra circunstância que nos leva a examinar por mais alguns instantes essa oposição entre a realidade e o brincar. Quando a criança cresce e pára de brincar, após esforçar-se por algumas décadas para encarar as realidades da vida com a devida seriedade, pode colocar-se certo dia numa situação mental em que mais uma vez desaparece essa oposição entre o brincar e a realidade. Como adulto, pode refletir sobre a intensa seriedade com que realizava seus jogos na infância, equiparando suas ocupações do presente, aparentemente tão sérias, aos seus jogos de criança, pode livrar-se da pesada carga imposta pela vida e conquistar o intenso prazer proporcionado pelo humor.
Ao crescer, as pessoas param de brincar e parecem renunciar ao prazer que obtinham do brincar. Contudo, quem compreende a mente humana sabe que nada é tão difícil para o homem quanto abdicar de um prazer que já experimentou. Na realidade, nunca renunciamos a nada; apenas trocamos uma coisa por outra. O que parece ser uma renúncia é, na verdade, a formação de um substituto ou sub-rogado. Da mesma forma, a criança em crescimento, quando pára de brincar, só abdica do elo com os objetos reais; em vez de brincar, ela agora fantasia. Constrói castelos no ar e cria o que chamamos de devaneios. Acredito que a maioria das pessoas construa fantasias em algum período de suas vidas. Este é um fato a que, por muito tempo, não se deu atenção, e cuja importância não foi, assim, suficientemente considerada.
As fantasias das pessoas são menos fáceis de observar do que o brincar das crianças. A criança, é verdade, brinca sozinha ou estabelece um sistema psíquico fechado com outras crianças, com vistas a um jogo, mas mesmo que não brinque em frente dos adultos, não lhes oculta seu brinquedo. O adulto, ao contrário, envergonha-se de suas fantasias, escondendo-as das outras pessoas. Acalenta suas fantasias como seu bem mais íntimo, e em geral preferiria confessar suas faltas do que confiar a outro suas fantasias. Pode acontecer, conseqüentemente, que acredite ser a única pessoa a inventar tais fantasias, ignorando que criações desse tipo são bem comuns nas outras pessoas. A diferença entre o comportamento da pessoa que brinca e da fantasia é explicada pelos motivos dessas duas atividades, que, entretanto, são subordinadas uma à outra.
O brincar da criança é determinado por desejos: de fato, por um único desejo - que auxilia o seu desenvolvimento -, o desejo de ser grande e adulto. A criança está sempre brincando ‘de adulto’, imitando em seus jogos aquilo que conhece da vida dos mais velhos. Ela não tem motivos para ocultar esse desejo. Já com o adulto o caso é diferente. Por um lado, sabe que dele se espera que não continue a brincar ou a fantasiar, mas que atue no mundo real; por outro lado, alguns dos desejos que provocaram suas fantasias são de tal gênero que é essencial ocultá-las. Assim, o adulto envergonha-se de suas fantasias por serem infantis e proibidas.
Mas, indagarão os senhores, se as pessoas fazem tanto mistério a respeito do seu fantasiar, como os conhecemos tão bem? É que existe uma classe de seres humanos a quem, não um deus, mas uma deusa severa - a Necessidade - delegou a tarefa de revelar aquilo de que sofrem e aquilo que lhes dá felicidade. São as vítimas de doenças nervosas, obrigadas a revelar suas fantasias, entre outras coisas, ao médico por quem esperam ser curadas através de tratamento mental. É esta a nossa melhor fonte de conhecimento, e desde então sentimo-nos justificados em supor que os nossos pacientes nada nos revelam que não possamos também ouvir de pessoas saudáveis.
Vamos agora examinar algumas características do fantasiar. Podemos partir da tese de que a pessoa feliz nunca fantasia, somente a insatisfeita. As forças motivadoras das fantasias são os desejos insatisfeitos, e toda fantasia é a realização de um desejo, uma correção da realidade insatisfatória. Os desejos motivadores variam de acordo com o sexo, o caráter e as circunstâncias da pessoa que fantasia, dividindo-se naturalmente em dois grupos principais: ou são desejos ambiciosos, que se destinam a elevar a personalidade do sujeito, ou são desejos eróticos. Nas mulheres jovens predominam, quase com exclusividade, os desejos eróticos, sendo em geral sua ambição absorvida pelas tendências eróticas. Nos homens jovens os desejos egoístas e ambiciosos ocupam o primeiro plano, de forma bem clara, ao lado dos desejos eróticos. Mas não acentuaremos a oposição entre essas duas tendências, preferindo salientar o fato de que estão freqüentemente unidas. Assim como em muitos retábulos em que é visível num canto qualquer o retrato do doador, na maioria das fantasias de ambição podemos descobrir em algum canto a dama a que seu criador dedicou todos aqueles feitos heróicos e a cujos pés deposita seus triunfos. Veremos que aqui existem motivos bem fortes para ocultamento; à jovem bem educada só é permitido um mínimo de desejos eróticos, e o rapaz tem de aprender a suprimir o excesso de auto-estima remanescente de sua infância mimada, para que possa encontrar seu lugar numa sociedade repleta de outros indivíduos com idênticas reivindicações.
Não devemos supor que os produtos dessa atividade imaginativa - as diversas fantasias, castelos no ar e devaneios - sejam estereotipados ou inalteráveis. Ao contrário, adaptam-se às impressões mutáveis que o sujeito tem da vida, alterando-se a cada mudança de sua situação e recebendo de cada nova impressão ativa uma espécie de ‘carimbo de data de fabricação.’ A relação entre a fantasia e o tempo é, em geral, muito importante. É como se ela flutuasse entre três tempos - os três momentos abrangidos pela nossa ideação. O trabalho mental vincula-se a uma impressão atual, a alguma ocasião motivadora no presente que foi capaz de despertar um dos desejos principais do sujeito. Dali, retrocede à lembrança de uma experiência anterior (geralmente da infância) na qual esse desejo foi realizado, criando uma situação referente ao futuro que representa a realização do desejo. O que se cria então é um devaneio ou fantasia, que encerra traços de sua origem a partir da ocasião que o provocou e a partir da lembrança. Dessa forma o passado, o presente e o futuro são entrelaçados pelo fio do desejo que os une.
Um exemplo bastante comum pode servir para tornar claro o que eu disse. Tomemos o caso de um pobre órfão que se dirige a uma firma onde talvez encontre trabalho. A caminho, permite-se um devaneio adequado à situação da qual este surge. O conteúdo de sua fantasia talvez seja, mais ou menos, o que se segue. Ele consegue o emprego, conquista as boas graças do novo patrão, torna-se indispensável, é recebido pela família do patrão, casa-se com sua encantadora filha, é promovido a diretor da firma, primeiro na posição de sócio do seu chefe, e depois como seu sucessor. Nessa fantasia, o sonhador reconquista o que possui em sua feliz infância: o lar protetor, os pais amantíssimos e os primeiros objetos do seu afeto. Esse exemplo mostra como o desejo utiliza uma ocasião do presente para construir, segundo moldes do passado, um quadro do futuro.
Há muito mais a dizer sobre as fantasias, mas limitar-me-ei a salientar aqui, de forma sucinta, mais alguns aspectos. Quando as fantasias se tornam exageradamente profusas e poderosas, estão assentes as condições para o desencadeamento da neurose ou da psicose. As fantasias também são precursoras mentais imediatas dos penosos sintomas que afligem nossos pacientes, abrindo-se aqui um amplo desvio que conduz à patologia.
Não posso ignorar a relação entre as fantasias e o sonhos. Nossos sonhos noturnos nada mais são do que fantasias dessa espécie, como podemos demonstrar pela interpretação de sonhos. A linguagem, com sua inigualável sabedoria, há muito lançou luz sobre a natureza básica dos sonhos, denominando de ‘devaneios’ as etéreas criações da fantasia. Se, apesar desse indício, geralmente permanece obscuro o significado de nossos sonhos, isto é por causa da circunstância de que à noite também surgem em nós desejos de que nos envergonhamos; têm de ser ocultos de nós mesmos, e foram conseqüentemente reprimidos, empurrados para o inconsciente. Tais desejos reprimidos e seus derivados só podem ser expressos de forma muito distorcida. Depois que trabalhos científicos conseguiram elucidar o fator de distorção onírica, foi fácil constatar que os sonhos noturnos são realização de desejos, da mesma forma que os devaneios - as fantasias que todos conhecemos tão bem.
Deixemos agora as fantasias e passemos ao escritor criativo. Acaso é realmente válido comparar o escritor imaginativo ao ‘sonhador em plena luz do dia’, e suas criações com os devaneios? Inicialmente devemos estabelecer uma distinção, separando os escritores que, como os antigos poetas egípcios e trágicos, utilizam temas preexistentes, daqueles que parecem criar o próprio material. Vamos examinar esses últimos, e, para os nossos fins, não escolheremos os mais aplaudidos pelos críticos, mas os menos pretensiosos autores de novelas, romances e contos, que gozam, entretanto, da estima de um amplo círculo de leitores entusiastas de ambos os sexos. Nas criações desses escritores um aspecto salienta-se de forma irrefutável: todas possuem um herói, centro do interesse, para quem o autor procura de todas as maneiras possíveis dirigir a nossa simpatia, e que parece estar sob a proteção de uma Providência especial. Se ao fim de um capítulo deixamos o herói ferido, inconsciente e esvaindo-se em sangue, com certeza o encontraremos no próximo cuidadosamente assistido e próximo da recuperação. Se o primeiro volume termina com o naufrágio do herói, no segundo logo o veremos milagrosamente salvo, sem o que a história não poderia prosseguir. O sentimento de segurança com que acompanhamos o herói através de suas perigosas aventuras é o mesmo com que o herói da vida real atira-se à água para salvar um homem que se afoga, ou se expõe à artilharia inimiga para investir contra uma bateria. Este é o genuíno sentimento heróico, expresso por um dos nossos melhores escritores numa frase inimitável. ‘Nada me pode acontecer’! Parece-me que através desse sinal revelador de invulnerabilidade, podemos reconhecer de imediato Sua Majestade o Ego, o herói de todo devaneio e de todas as histórias.
Outros traços típicos dessas histórias egocêntricas revelam idêntica afinidade. O fato de que todas as personagens femininas se apaixonam invariavelmente pelo herói não pode ser encarado como um retrato da realidade, mas será de fácil compreensão se o encararmos como um componente necessário do devaneio. O mesmo aplica-se ao fato de todos os demais personagens da história dividirem-se rigidamente em bons e maus, em flagrante oposição à verdade de caracteres humanos observáveis na vida real. Os ‘bons’ são aliados do ego que se tornou o herói da história, e os ‘maus’ são seus inimigos e rivais.
Sabemos que muitas obras imaginativas guardam boa distância do modelo do devaneio ingênuo, mas não posso deixar de suspeitar que até mesmo os exemplos mais afastados daquele modelo podem ser ligados ao mesmo através de uma seqüência ininterrupta de casos transicionais. Notei que, na maioria dos chamados ‘romances psicológicos’, só uma pessoa - o herói - é descrita anteriormente, como se o autor se colocasse em sua mente e observasse as outras personagens de fora. O romance psicológico, sem dúvida, deve sua singularidade à inclinação do escritor moderno de dividir seu ego, pela auto-observação, em muitos egos parciais, e em conseqüência personificar as correntes conflitantes de sua própria vida mental por vários heróis. Certos romances, que poderíamos classificar de ‘excêntricos’, parecem contrapor-se ao devaneio modelo. Nestes, a pessoa apresentada como herói desempenha um papel muito pouco ativo; vê os atos e sofrimentos das demais pessoas como espectador. Muitos dos últimos romances de Zola pertencem a essa categoria. Mas devo assinalar que a análise psicológica de indivíduos que não são escritores criativos, e que em alguns aspectos se afastam da norma, mostrou-nos variações análogas do devaneio, nos quais o ego se contenta com o papel de espectador.
Para que nossa comparação do escritor imaginativo com o homem que devaneia e da criação poética com o devaneio tenha algum valor é necessário, acima de tudo, que se revele frutuosa, de uma forma ou de outra. Tentemos, por exemplo, aplicar à obra desses autores a nossa tese anterior referente à relação entre a fantasia e os três períodos de tempo, e o desejo que o entrelaça; e com seu auxílio estudemos as conexões existentes entre a vida do escritor e suas obras. Em geral, até agora não se formou uma idéia concreta da natureza dos resultados dessa investigação, e com freqüência fez-se da mesma uma concepção simplista. À luz da compreensão interna (insight) de tais fantasias, podemos encarar a situação como se segue. Uma poderosa experiência no presente desperta no escritor criativo uma lembrança de uma experiência anterior (geralmente de sua infância), da qual se origina então um desejo que encontra realização na obra criativa. A própria obra revela elementos da ocasião motivadora do presente e da lembrança antiga.
Não se alarmem ante a complexidade dessa fórmula. Na verdade suspeito que a mesma irá revelar-se como um esquema muito insuficiente. Entretanto, mesmo assim talvez ofereça uma primeira aproximação do verdadeiro estado de coisas; por experiências que realizei, inclino-me a pensar que essa visão das obras criativas pode produzir seus frutos. Não se esqueçam que a ênfase colocada nas lembranças infantis da vida do escritor - ênfase talvez desconcertante - deriva-se basicamente da suposição de que a obra literária, como o devaneio, é uma continuação, ou um substituto, do que foi o brincar infantil.
Não devemos esquecer, entretanto, de examinar aquele outro gênero de obras imaginativas, que não são uma criação original do autor, mas uma reformulação de material preexistente e conhecido (ver em [1]). Mesmo nessas obras o escritor conserva uma certa independência que se manifesta na escolha do material e nas alterações do mesmo, às vezes muito amplas. Embora esse material não seja novo, procede do tesouro popular dos mitos, lendas e contos de fadas. Ainda está incompleto o estudo de tais construções da psicologia dos povos, mas é muito provável que os mitos, por exemplo, sejam vestígios distorcidos de fantasias plenas de desejos de nações inteiras, os sonhos seculares da humanidade jovem.
Poderão dizer que, embora eu tenha colocado o escritor criativo em primeiro lugar no título deste artigo, me ocupei menos dele que das fantasias. Reconheço o fato, e devo tentar desculpar-me alegando o estado atual de nossos conhecimentos. Pude apenas oferecer certos encorajamentos e sugestões que, partindo do estudo das fantasias, levaram ao problema da escolha do material literário pelo escritor. Quanto ao outro problema - como o escritor criativo consegue em nós os efeitos emocionais provocados por suas criações -, ainda não o tocamos. Mas gostaria, ao menos, de indicar-lhes o caminho que do nosso exame das fantasias conduz aos problemas dos efeitos poéticos.
Devem estar lembrados de que eu disse (ver a partir de [1]) que o indivíduo que devaneia oculta cuidadosamente suas fantasias dos demais, porque sente ter razões para se envergonhar das mesmas. Devo acrescentar agora que, mesmo que ele as comunicasse para nós, o relato não nos causaria prazer. Sentiríamos repulsa, ou permaneceríamos indiferentes ao tomar conhecimento de tais fantasias. Mas quando um escritor criativo nos apresenta suas peças, ou nos relata o que julgamos ser seus próprios devaneios, sentimos um grande prazer, provavelmente originário da confluência de muitas fontes. Como o escritor o consegue constitui seu segredo mais íntimo. A verdadeira ars poetica está na técnica de superar esse nosso sentimento de repulsa, sem dúvida ligado às barreiras que separam cada ego dos demais. Podemos perceber dois dos métodos empregados por essa técnica. O escritor suaviza o caráter de seus devaneios egoístas por meio de alterações e disfarces, e nos suborna com o prazer puramente formal, isto é, estético, que nos oferece na apresentação de suas fantasias. Denominamos de prêmio de estímulo ou de prazer preliminar ao prazer desse gênero, que nos é oferecido para possibilitar a liberação de um prazer ainda maior, proveniente de fontes psíquicas mais profundas. Em minha opinião, todo prazer estético que o escritor criativo nos proporciona é da mesma natureza desse prazer preliminar, e a verdadeira satisfação que usufruímos de uma obra literária procede de uma libertação de tensões em nossas mentes. Talvez até grande parte desse efeito seja devida à possibilidade que o escritor nos oferece de, dali em diante, nos deleitarmos com nossos próprios devaneios, sem auto-acusações ou vergonha. Isso nos leva ao limiar de novas e complexas investigações, mas também, pelo menos no momento, ao fim deste exame.
NOTA DO EDITOR INGLÊS
DER DICHTER UND DAS PHANTASIEREN
(a) EDIÇÕES ALEMÃS:
(1907 6 de dezembro. Pronunciado como conferência)
1908 Neue Revue, 1 (10) [março], 716-2.
1909 S.K.S.N., 2,197-206 (1912, 2ª ed.; 1921, 3ª ed.)
1924 G.S. 10, 229-239.
1924 Dichtung und Kunst, 3-14.
1941 G.W., 7, 213-223.
(b) TRADUÇÃO INGLESA:
‘The Relation of the Poet to Day-Dreaming’
1925 C.P., 4, 172-183. (Trad. de I. F. Frant Duff.)
-----------------
A obra de arte é um substituto para aquilo que foi o brincar infantil ?