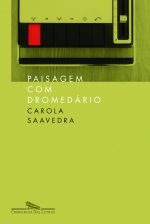Mostrando postagens com marcador livros. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador livros. Mostrar todas as postagens
07/08/2017
26/02/2015
Ler ficção
Dezembro, fim de semana entre o Natal e o Ano Novo. Estava sentado na escadinha, no canto da praça, contemplado um sábado acontecer. Objetivamente o cenário era o mesmo: moleques mal saídos da puberdade orbitando carros de porta-malas abertos. Sertanejo universitário ou um rock cafona do tipo Dire Straits e Guns N' Roses. A única viatura de polícia da cidade ronda o local e os moleques baixam o porta-malas e depois levantam quando a polícia vai embora. A grande conquista de suas vidas é ludibriar três policiais caipiras entediados de tanto andar de carro numa cidade quase sem carros. Há dez, quinze anos, a mesma cena se repete. Mas havia alguma coisa diferente antes, algum tipo de cegueira que me preservava de cair num sufoco fisico com todo aquele ridículo. Antes, essa pobreza de espírito não me incomodava tanto. Mas agora o ar era irrespirável. As ruas tinham encolhido e toda a cidade era de repente um grão de areia submerso no universo da pequenez total que afinal define qualquer lugar. E qualquer vida. A pequenez contra a qual tentamos lutar. Não dava para acreditar que eu tinha vivido tanto tempo ali e que aquilo tivesse sido tudo.
***
Nas últimas páginas de Um outro amor, Karl Ove acaba retornando ao lugar de sua adolescência, em que se passa grande parte de A morte do pai. Há um descompasso tremendo na forma como Karl Ove via (ou se lembrava) do lugar, e como o lugar realmente era. Esse desacordo gera um estranhamento profundo em Karl Ove:
“Tem muita pouca coisa aqui. Aliás, não tem nada. Nunca vi um lugar assim antes. Não tem nada aqui. E em outra época isso foi tudo para mim”.
E mais adiante:
“Todos os lugares que eu trazia dentro de mim, que tinha imaginado infinita vezes ao longo da minha viva, passaram do lado de fora da janela, sem nenhuma aura, totalmente neutros, assim era tudo aquilo, na verdade. Umas poucas rochas, uma pequena baía, um trapiche decrépito, um braço de mar, umas casas velhas e uma planície que descia rumo à água. Era tudo”.
Depois concluiu:
“Mas vidas continuavam a ser vividas naquelas casas, e para elas aquelas coisas todas ainda eram tudo. Pessoas nasciam, pessoas morriam, faziam amor e discutiram, comiam e cagavam, bebiam e festejavam, liam e dormiam. Assistiam televisão, sonhavam, tomavam banho, comiam maçãs e olhavam para os telhados das casas em meio aos ventos de outono, que faziam balançar os pinheiros compridos e esbeltos. Um lugar pequeno e feio, mas que era tudo que existia”.
“Tem muita pouca coisa aqui. Aliás, não tem nada. Nunca vi um lugar assim antes. Não tem nada aqui. E em outra época isso foi tudo para mim”.
E mais adiante:
“Todos os lugares que eu trazia dentro de mim, que tinha imaginado infinita vezes ao longo da minha viva, passaram do lado de fora da janela, sem nenhuma aura, totalmente neutros, assim era tudo aquilo, na verdade. Umas poucas rochas, uma pequena baía, um trapiche decrépito, um braço de mar, umas casas velhas e uma planície que descia rumo à água. Era tudo”.
Depois concluiu:
“Mas vidas continuavam a ser vividas naquelas casas, e para elas aquelas coisas todas ainda eram tudo. Pessoas nasciam, pessoas morriam, faziam amor e discutiram, comiam e cagavam, bebiam e festejavam, liam e dormiam. Assistiam televisão, sonhavam, tomavam banho, comiam maçãs e olhavam para os telhados das casas em meio aos ventos de outono, que faziam balançar os pinheiros compridos e esbeltos. Um lugar pequeno e feio, mas que era tudo que existia”.
Difícil é saber se o desencanto é com a paisagem concreta, com a memória que se construiu (um tanto quanto idealizada) ou as duas coisas ao mesmo tempo.
Mais ou menos o que diz Heráclito, sobre a impossibilidade de se atravessar o mesmo rio duas vezes. Porque nem o homem nem o rio são os mesmos.
***
Acho que todo mundo sabe que nem sempre é bom rever aquele filme favorito de quando se tem 15 ou 16 anos. O horror de reencontrar alguém por quem fomos apaixonados há muito tempo e constatar o quanto aquele sentimento era ridículo. Ou lembrar de chofre de bobagens que acreditamos e defendíamos arduamente enfurecidos numa cozinha de festa de república. É mais ou menos disso que se trata.
***
A leitura de uma narrativa de ficção é sempre uma forma de experimentar a própria vida na vida dos outros. Percorrer uma narrativa (afinal essa ordem narrativa só existe nos livros, nunca na vida, e por isso narramos, para tentar colocar ordem no caos que é viver uma vida), é também uma forma de inaugurar embates com seus próprios conflitos evocados através dos conflitos das personagens. Acredito que é mais ou menos isso que as pessoas querem dizer quando dizem que “entraram na história”. Ou que saíram “transformadas” de um livro. Ou em casos mais enfáticos “esse livro mudou minha vida”.
Meu estranhamento depois do Natal aconteceu antes que chegasse a parte do livro em que Karl Ove narra uma experiência semelhante. E ler o relato de Karl Ove tornou a minha própria experiência ainda mais clara e vívida. Exatamente porque a coisa (sentimento, impressão) se repetiu de forma organizada e com o distanciamento e controle que a posição de leitor nos coloca. E eu acho isso do caralho. Um entre os grandes baratos de ler ficção.
***
Mas ler ficção é principalmente se deixar arrastar por universos estranhos e experimentar ambientes emocionais, estéticos e intelectuais completamente diversos daquilo a que estamos acostumados. Deixar-se contaminar com novos ares e com mundos singulares calcados nas angústias e prazeres fundamentais da realidade humana: amor, paixão, abandono, solidão, aventura, humor, morte, a inalcançável experiência do tempo.
***
O deslocamento de Karl Ove não se resume no entanto ao deslocamento geográfico, ao fato de deixar a sua pequena província na Noruega e ir para Estocolmo. É um descolamento existencial.
Ele escreve:
"É simples entender uma vida, pois os fatores que a determinam são poucos. Na minha vida foram dois: meu pai e o fato de que eu não pertenci a lugar nenhum".
Eis aí o eixo duro dos dois primeiros livros. Somando-se a isso os apuros com os filhos pequenos, consigo entender porque tenho curtido e me identificado tanto com esses livros do sr. Knausgard.
De toda forma, a expectativa em relação ao terceiro só aumenta. Parece que A ilha da infância deve ser ainda mais foda. O livro chega nas livrarias em maio.
Enquanto não chega, estou me debruçando sobre Extinção, do Bernhard.
Enquanto não chega, estou me debruçando sobre Extinção, do Bernhard.
***
Camus em quadrinhos
Passou mais ou menos batido um baita lançamento no ano passado. A tradução da versão em quadrinhos de O estrangeiro, do Camus, por Jacques Ferrandez (Quadrinhos da Cia, 2014). É um troço simplesmente sensacional.
Passou mais ou menos batido um baita lançamento no ano passado. A tradução da versão em quadrinhos de O estrangeiro, do Camus, por Jacques Ferrandez (Quadrinhos da Cia, 2014). É um troço simplesmente sensacional.
Jacques Ferrandez nasceu na Argélia e trabalhou no país por 25 anos. Tem grande familiaridade com o local, assim como Albert Camus. Em entrevista ao Estadão, Ferrandez disse: "Camus jamais esteve muito longe de mim e eu o tornei minha referência, até que passei naturalmente à ilustração de um de seus contos, L’Hôte (O Hóspede), uma novela extraída do L’Exil et le Royaume, de 1957, que apareceu em 2009. Desejei adaptar essa obra maior de Albert Camus da forma mais fiel possível ao romance."
Ferrandez enche a página de luz na primeira parte do livro. Como se o sol estivesse conduzindo a história. Depois da cena da praia, as sombras tomam conta de tudo.
03/05/2013
Adaptação
Jonathan Franzen foi uma das melhores leituras que fiz nos últimos tempos.
Embora a badalação ao redor do sujeito fosse grande - Flip, best-seller, "o grande romancista americano" - acabei embirrado com o cabra e só fui ler o sujeito depois que a poeira abaixou um pouco.
Não foi tanto birra.
Sempre achei que minha atração pela leitura fosse talvez fruto do silêncio interiorano.
Ainda em fase de adaptação a essa coisa monstruosa que é o transporte público em São Paulo, eu não conseguia ler no ônibus. Com a consciência operando a 30% pela manhã - sono - ou cansado demais à tarde, invejava profundamente aquelas pessoas ali sentadas - atentas, despertas - lendo As Crônicas de Gelo e Fogo.
Cheguei a pensar que nunca mais ia ler nada na vida.
Parecia impossível ler qualquer coisa enquanto duas meninas no banco de trás contam estripulias de namoricos, um homem ao seu lado conversa com a mãe no telefone sobre o exame de rins do avô, uma entrevista de emprego e toda uma trama de mistério com uma tal de Janete, que andou se encontrando com um tal de Rogério, em plena quarta-feria, em um suposto forró em Santo Amaro.
Comecei pela coletânea de ensaios Como ficar sozinho. Em parte, por esses trechos convidativos que saíram na Piauí e na Folha de S.Paulo. Gostei pra caramba. Então resolvi ler tudo que encontrasse por aí: Tremor, As correções, Liberdade, A zona do desconforto).
Estou na metade do caminho.
Tremor é simplesmente viciante e As correções genial. Foram os dois primeiros livros que li praticamente só no ônibus. Agora, estou no meio de Liberdade e a meta é destrinchar A zona do desconforto antes de novembro.
Acho que vai dar.
****
(Clique na imagem)
20/10/2011
Febre, Raymond Carver: narrar é resistir
 |
| Carver, em Iowa (1963) Fonte: http://thisrecording.com |
Eu fico cada vez mais impressionado em como o Carver consegue ser tão bom. Alguns contos não saem da minha cabeça. O mais recente é o conto Febre, que faz parte do livro Catedral, (que está incluído no estupendo 68 contos de Raymond Carver, editado pela Companhia das Letras, 2010). É a história de um professor de "Educação Artística" do "Ensino Médio", chamado Carlyle, que é abandonado pela mulher, Eileen, depois de 18 anos de relação. O casal têm dois filhos pequenos. Eileen vai embora e deixa Carlyle sozinho com as crianças.
Carlyle está bem encrencado. O conto abre com a contratação desastrosa de uma babá adolescente. Carlyle chega do trabalho e encontra as crianças no jardim de fora da casa. Há um cachorro cuja boca poderia devorar a cabeça das crianças, lambendo o rosto de uma delas. Carlyle está mesmo muito encrencado. As janelas da casa vibram com o som alto. Carlyle apanha as crianças e entra em casa. Lá dentro, se depara com adolescentes ouvindo Rod Stewart no talo e tomando cerveja. E não há nada melhor para mostrar como a vida desse sujeito está uma bagunça. Carlyle está na sala da sua casa, com as duas crianças no colo, discutindo com adolescentes bêbados (WTF? Quem são essas pessoas na minha casa?) ao som de Rod Steward (Rod Stewart, que cena).
Carlyle precisa de alguém para ajudá-lo a colocar as coisas nos eixos. Ou, pelo menos, é isso que ele acha que precisa.
***
(se você não leu o conto, não leia daqui pra baixo, contém spoilers)
O conto é narrado em terceira pessoa, mas como a focalização está em Carlyle, o filtro das impressões é orientado pela perspectiva dele. Então não sabemos muito sobre Eileen. Apenas as ligações constantes que ela faz a Carlyle (essas ligações, aliás, estão entre os melhores momentos do conto), e uma ou outra memória em tom de sumário que o narrador nos oferece. Sabemos que Eileen se envolveu com outro professor, amigo de Carlyle, e foi tentar uma obscura carreira artística. Aquele clichê de correr atrás de seus sonhos, não importe o tempo que passar. Sabemos que Eileen tinha deixado isso de lado em algum momento do passado. Essa pretensa carreira artística. E que esse desejo estoura (ou serve de vazão para outras frustrações não mencionadas), no meio da rotina maçante e sufocante. Ela aborta a relação e vai seguir seus sonhos juvenis, sem se importar muito com Carlyle ou com as crianças (embora sempre insista em dizer que se importa).
***
Tem uma mulher chamada Carol, com quem Carlyle tem saído. Uma colega de trabalho. Mas há uma grande fissura nessa relação. Por mais que Carlyle tente, ele nunca consegue estar totalmente com Carol. Há uma cena que ilustra bem essa passagem. Os dois estão sozinhos na casa de Carlyle e o telefone toca. É Eileen ligando (o passado ligando e atormentando Carlyle). Carlyle sabe disso e não quer atender. Mas Carol diz que talvez seja algo importante (algo mais importante que ela). E Carol diz isso e vai embora.
***
Mas a personagem mais cativante do conto é a Sra. Webster. Uma babá já de idade que é indicada por Eileen. A Sra. Webster cuida das crianças, cuida de Carlyle. A Sra. Webster faz bolinhos, a Sra. Webster é quase uma mãe. Bendita seja a Sra. Webster.
O aparecimento da Sra. Webster no conto coloca as coisas nos eixos. É exatamente aquilo que Carlyle precisava. Quase um Messias. E a tensão da narrativa aponta para uma solução. Mas logo Carlyle cai numa crise de febre, fica afastado da escola, e as coisas começam a complicar. Já não bastasse a febre que toma conta de Carlyle, a Sra. Webster diz que precisa ir embora. Ela e o Sr. Webster arranjaram empregos em outro estado e não podem recusar. Porque o Sr. Webster já está velho e há muito tempo está desempregado. E é aqui que vem a cena final do conto, onde Carlyle narra sua história com Eileen para o Sr. e a Sra Webster. Mas não sabemos dos detalhes. A narrativa dessa história não vem em primeiro plano. Aparece apenas como sumário.
O aparecimento da Sra. Webster no conto coloca as coisas nos eixos. É exatamente aquilo que Carlyle precisava. Quase um Messias. E a tensão da narrativa aponta para uma solução. Mas logo Carlyle cai numa crise de febre, fica afastado da escola, e as coisas começam a complicar. Já não bastasse a febre que toma conta de Carlyle, a Sra. Webster diz que precisa ir embora. Ela e o Sr. Webster arranjaram empregos em outro estado e não podem recusar. Porque o Sr. Webster já está velho e há muito tempo está desempregado. E é aqui que vem a cena final do conto, onde Carlyle narra sua história com Eileen para o Sr. e a Sra Webster. Mas não sabemos dos detalhes. A narrativa dessa história não vem em primeiro plano. Aparece apenas como sumário.
***
Carlyle revive a perda da mulher ao perder a Sra. Webster. E é essa segunda perda que permite a Carlyle livrar-se da primeira. Livrar-se de vez, narrando a história toda. Só assim acontece a mudança da personagem. Não é à-toa que a história de Carlyle e Eileen não aparece em primeiro plano, aparece apenas como sumário. Carlyle narra para si mesmo. É ele quem precisa entender as coisas, não seus interlocutores. Carver mostra isso com a descrição das crianças, sentadas, ouvindo o pai contar tudo, como se prestassem atenção e estivessem entendendo. Mas aquela experiência é impossível de ser transferida, impossível de ser narrada ao outro (essa incapacidade dizer para outro, está por exemplo no conto Catedral, onde um sujeito tenta inutilmente descrever a um cego de nascença uma catedral). Ninguém entende e nem precisa entender os detalhes da questão, apenas Carlyle.
***
Narrar para superar. É mais ou menos isso que está ali.
De toda forma, desde sempre os homens narram para tentar expulsar o caos e o vazio das suas vidas. Seja nas narrativas mitológicas das diversas culturas, nos causos, mentiras, canções, narrativas religiosas, na literatura. A memória, por exemplo, é essencialmente narrativa. E por isso mesmo sempre nos prega peças. Deixa as coisas mais suportáveis e mais bonitas. E se não fosse assim, talvez não suportássemos.
A gente narra para empurrar o caos para longe. Narra contra o vazio à espreita. Narra à beira do abismo. E o vazio não é outra coisa senão a falta de limites. O sentido só existe a partir do limite.
Narrar é limitar, limitar é definir, tentar colocar as coisas nos seus devidos lugares. Fora do limite, o vazio que engole tudo. Feito o Nada, em A História sem fim. Aquele cão devorando montanhas e rios, memórias e nomes, esvaziando o interior das pedras. Ele sempre esteve aí, sempre vai estar.
De resto, não há sentido nenhum nessa coisa toda. Senão esse sentido que a gente tenta encontrar, a conta-gotas. Nunca é definitivo, claro. Mas narrar é resistir, e talvez uma das melhores formas de resistir.
________
Criei uma página pro blog no Facebook. Ainda estou aprendendo a usar, mas se você quiser receber as atualizações do blog pelo Facebook, é só entrar lá e curtir.
Ou seguir por aqui
Ou seguir por aqui
21/09/2011
Oswaldo França Júnior, narrar para narrar.
 |
| Oswaldo França Júnior, 1948, com 12 anos de idade. |
"O velho falava de um conhecido dele e da Maria que se chamava Inácio e que soube que sua mulher gostava de um cabo da polícia depois do cabo ter morrido. E ele havia perguntado à mulher se ela e o cabo tinham tido mesmo um amor. Ela respondeu que haviam se gostado, sim. E o Inácio durante toda uma noite ficou pensando naquilo e no dia seguinte, pela manhã, foi ao cemitério e começou a dar tiros na sepultura do cabo."
Oswaldo França Júnior, Os dois irmãos. p. 105.
Impressionante a quantidade de micronarrativas dentro desse livro. A quantidade de episódios dentro de episódios, e muitas vezes desligados da trama principal. E mesmo assim, o livro avança no ritmo correto. A estrutura do livro está enraizada na mais pura narrativa [se parece com Saer, em As Nuvens, embora as descrições abundem no texto de Saer]. O narrador, em terceira pessoa, narra apenas para abrir espaço paras as personagens narrarem. Histórias dentro de histórias, sem um sentido maior. Sem uma preocupação afetada demais com subtexto. A mão corre leve. Sem tiques, truques ou joguinhos. E não é fácil dar a impressão de apenas narrar e ainda sim provocar estranhamento.
***
De toda forma, há esse fruir da história, e nem por isso é um livro óbvio. Pelo contrário. É um livro estranho. Intrincado. Personagens perseguindo ou atormentados por metas inexistentes, absurdas, inatingíveis; enquanto "o homem" fica sempre questionando por que diabos fazem isso, em especial, o irmão:
"— Para que todo este esforço? Outros já procuraram por aqui e desistiram.
Mas o irmão não havia dado resposta. Havia continuado seu trabalho, raspando o fundo de manhã à noite. Lutando um dia inteiro contra a correnteza para amarrar em cima da água duas tábuas e um feixe de paus.
— Isto não vai levá-lo a nada — dizia o homem.
Mas ele não respondia. Continuava de cima da sua espécie de plataforma puxando a enxada que vinha do fundo cheia de lama e de pedras."
***
A mim, pelo menos, é isso que parece.
***
“E ele cansou de esperar que os peixes aparecessem e que os figos ficassem do tamanho de uma abóbora. Cansou também de ouvir as pessoas perguntando sobre o recado de Deus. E um dia pegou uma espingarda e foi para a serra. E lá do alto começou a atirar para cima. Os que escutavam os tiros perguntavam o que estava acontecendo com ele.
— O que está acontecendo com o Claudiano?
E tinham medo de ir até a serra. Até os soldados ficaram embaixo, esperando que ele parasse com os tiros para então subirem.
— O único que foi e conversou com ele foi meu irmão — disse o homem.
E contou que o irmão tinha dito aos soldados quando voltou:
— Claudiano não quer parar com os tiros. Mas eles estão terminando.
E os soldados lhe perguntaram:
— O que ele está fazendo?
— Está dando tiros para o alto.
— Mas por que está fazendo isto?
— Está atirando em Deus.
— Em Deus? — estranharam os soldados.
— Ele disse que Deus mentiu para ele. E por isto está lá em cima tentando acertá-lo.”
Oswaldo França Júnior, Os dois irmãos. p. 79-80.
30/05/2011
Relógio de Pulso e Contos de mentira
Dois livros que estão nas minhas prioridades em adquirir:
Relógio de Pulso, da Ana Guadalupe, pela editora 7 Letras. Relógio de pulso será lançado na terça-feira, 31 de maio, a partir das 19h, na Livraria da Travessa Leblon.
Relógio de Pulso, da Ana Guadalupe, pela editora 7 Letras. Relógio de pulso será lançado na terça-feira, 31 de maio, a partir das 19h, na Livraria da Travessa Leblon.
Contos de Mentira, da Luisa Geisler, pela editora Record. A Luisa venceu o Prêmio Sesc de Literatura 2010, na categoria contos. Contos de Mentira será lançado dia 13/07.
10/02/2011
Os lados do círculo, Amilcar Bettega
“Os lados do círculo” de Amilcar Bettega (Companhia das Letras, 2004) me causou aquele tipo de impressão muito forte. Li e venho relendo o livro com prazer e deslumbramento renovado. Uma das melhores coisas que li nos últimos anos. Interessante como Amilcar muda o foco de sua obra sem perder a qualidade e resguarda um estilo muito particular. Se em “Deixe o quarto como está” a narrativa de cunho absurdo era predominante, como no conto do sujeito que toma um trem e não consegue deixar a cidade, ou o já famoso conto do “Crocodilo”, na geléia de “Hereditário”, ou no meu favorito, “Espera”, onde o absurdo emerge da esperança levada às últimas consequências - e suprimindo o real, causa um tipo de dilatação tenebrosa, a voz que se afasta continuamente sem nunca partir por completo; em “Os lados do círculo”, Amilcar joga com a ideia de circularidade, joga com pistas sutis que conectam, ou sugerem conexões entre as personagens e entre as narrativas, cria uma atmosfera singular que transcende a ambientação na cidade de Porto Alegre. Amilcar consegue unir duas coisas sensacionais na sua prosa. Transitar na forma e criar atmosferas. Transitar na forma do círculo violento de “Verão” ou no eterno retorno de “Círculo Vicioso”, ou subvertendo a estrutura narrativa no jogo de enunciados descritivos de “The end”. Criar atmosferas, produzir círculos que prendem o leitor num emaranhado sensorial inescapável, como “A aventura prático intelectual do Sr. Alexandre Costa” ou “Teatro de bonecos”. E se joga com metalinguagem, ao fazer de um questionário de entrevista uma história, em "A/c editor cultura segue resp. cf. solic. Fax", é sem o mínimo de afetação. A metalinguagem surge como uma consequência natural da vasta consciência literária e num tom de verdade que não deixa espaço para descrença ou enfado do leitor.
Amilcar é um criador de atmosferas. Seus contos são climatizados, é como se fôssemos levados pelo braço a adentrar um espaço novo; e toda vez que adentramos um espaço novo, imersos na estranheza, nossos sentidos são inevitavelmente potencializados, aguçados diante da carga sensorial descarregada sobre eles. É praticamente impossível não se deixar contagiar com sua escrita. Seja pela qualidade com que manuseia a língua, seja pela habilidade em contar histórias de um modo tão próprio.
E isso tudo só me faz ficar ansioso pelo próximo livro (que será um romance?), fruto da viagem à Istambul.
Leitura de cabeceira.
19/01/2011
Oficina de escritores, Stephen Koch
Ontem eu tava lendo “Oficina de escritores: manual para a arte da ficção”, de Stephen Koch, tradução de Marcelo Dias Almada (Editora Martins Fontes: 2008). É um livro divertido e me fez pensar numa porrada de coisas.
Stephen Koch lecionou durante vinte e um anos escrita criativa na pós-graduação da Universidade de Columbia e durante sete anos na graduação da Universidade de Princeton. Ainda não terminei o livro, mas, até o momento, Koch não citou quem foram os alunos que passaram por ele, se algum realmente foi bem sucedido após frequentar suas oficinas. Fiz uma rápida pesquisa na internet, e estranho, o senhor Stephen Koch não tem sequer um verbete na wikipédia. Não que isso seja necessário para dar credibilidade ao trabalho, mas, sempre que me deparo com um sujeito palestrando sobre “receitas para o sucesso” e não apresentando dados concretos, é inevitável recorrer ao “complexo de Richard”, o pai da Little Miss Sunshine e sua célebre palestra sobre como se dar bem, na abertura do filme, numa sala cheia de cadeiras vazias. Pode ser também que o Sr. Koch seja um desses sujeitos mais reservados e não queira expôr resultados de maneira quantitativa. Mostrar quantos alunos passaram por suas aulas, quantos publicaram depois do curso de escrita criativa, quantos seguiram adiante na carreira de escritor, quantos produziram obras realmente relevantes. Seria pelo menos interessante, não é? Não que uma oficina seja uma indústria de talentos, forjando sujeitos aptos a boa literatura. Uma oficina não faz milagres, mais ou menos como qualquer curso superior ou uma pós-graduação. Já conheci pessoas que saíram da faculdade sem saber interpretar um texto, outros com a alcunha de doutores, teses e teses publicadas, e completamente imbecis.
Mas o livro não é picaretem, pelo menos até o momento não pareceu.
Claro, há algumas obviedades. Tipo, como uma descrição com termos concretos funciona melhor em relação a uma descrição com termos abstratos, como mostrar através da ação funciona melhor do que dizer, etc. Essas coisas que qualquer leitor, escritor aspirante, com o mínimo de leitura entende. E claro, se você escreve, logo descobre que não há receitas. Que não dá pra esperar pela inspiração. Que o melhor momento pra escrever é qualquer momento. E que os grandes autores criam seus caminhos, apesar de toda a adversidade. E que essas receitas no início até ajudam, te ajudam a experimentar as várias formas de dizer alguma coisa, de contar uma história, mas depois são um entrave, principalmente quando você precisa encontrar aquela voz que te distingue de todas as outras vozes, aquela voz que faz do teu texto algo válido e minimante relevante. E pra encontrar essa voz, bom, aí não tem receita, senão escrever.
Afinal, só se escreve escrevendo. Às vezes acontece de você esperar pelo momento ideal, mas não existe momento ideal. E se existe uma coisa que aprendi nesse breve caminho inicial de escrita é o seguinte: quanto mais se escreve mais motivado se fica. Não adianta esperar pela motivação pra escrever. Esperar pela ideia genial, esperar pela inspiração, esperar pelo momento ideal e pela motivação; são pequenas desculpas que a gente inventa pra adiar a escrita, pra deixar para o dia seguinte.
Vai esperando...
Você só terá um texto para melhorar e torná-lo apresentável se escrevê-lo. Você só terá uma história, enredo, personagens, forma, estrutura, diálogos, se você escrever essas coisas. Se você escrever essa história. Não adianta esperar pela ideia genial que cai pronta do céu e toma o controle como um espírito toma conta de um médium. Não adianta querer que a coisa jorre genial desde a primeira frase.
A maioria dos jovens escritores e aspirantes querem ser Guimarães Rosa, Clarice, Bukowski ou J. K. Rowling desde a primeira frase, da primeira versão, do primeiro texto que se dispõe a escrever. Querem revolucionar a literatura ou vender milhões. Querem que os editores batam em suas portas e dêem tapinhas nas suas costas e digam que são gênios. Querem já na primeira frase ter seu nome estampado nas livrarias, nos cadernos de cultura, querem assinar um contrato com a Companhia das Letras e ir na Flip. E ficam pensando nessas coisas, e não escrevem. Ficam nos bares reclamando, na mesa de bar, e não escrevem. E acham tudo uma bobagem (porque estão de fora) e tecem textos virulentos reclamando do mercado literário, de editores maus, do coitado do leitor burro e desinteressado e do sistema literário injusto. (geralmente, como apontado nos comentários de um post anterior, o sujeito reclamão que diz "ninguém lê", na verdade, está dizendo ninguém ME lê).
Afinal, pra que ficar aí desferindo seu ódio adolescente às coisas?
Um escritor geralmente está ocupado demais escrevendo alguma coisa pra se preocupar com essas bobagens, diria Faulkner.
Se você diz que não tem tempo pra escrever, então, meu caro, desista. Porque se você não encontra tempo pra escrever é porque está ocupado demais com outras coisas mais importantes pra você. Então vá cuidar dessas coisas e desista de escrever.
Ps: acho que escrevi esse texto pra mim mesmo, ou não.
14/01/2011
“Paris não tem fim”, Enrique Vila-Matas
A juventude é uma desgraça. Não vemos isso, ou porque somos jovens, geralmente bitolados num ponto vista que justifica a realidade como um todo e nossa postura imbecil e estreita diante das coisas; ou porque somos velhos nostálgicos, agarrados a visões melhoradas de nós mesmo e de um suposto mundo antigo, reconstruído artificialmente pela memória.
Ou não.
Talvez envelhecer seja a maior das mentiras, apenas o costume e o hábito impondo sua força, nos achatando, forçando a baixar a cabeça e acatar ordens ulteriores, internalizá-las e assumir imposições como se fossem atos genuínos [existem atos genuínos?]; e, essa suposta serenidade supostamente conquistada, a larga experiência construída ao longo de anos que viraram pó, apenas um misto de condicionamento e adaptação pacífica.
No entanto, resta a ironia.
E é a ironia a saída encontrada pelo narrador de “Paris não tem fim”, Enrique Vila-Matas [tradução: Joca Reiners Terron], Cosac Naify, 2007. O romance é estruturado a partir de uma conferência sobre a ironia, onde o narrador, alter-ego de Vila-Matas, rechaça seus anos de juventude em Paris e de formação como escritor, quando vivia numa água-furtada alugada da escritora Marguerite Duras [a divertida personagem que se comunica em seu francês superior].
O que a primeira vista poderia ser um simples romance de formação de caráter [bildungsroman], é um romance de “deformação” do caráter. Através de uma visão irônica sobre si mesmo, o narrador alter-ego, tenta demolir as imbecilidades da juventude, [supunha que a elegância estava no desespero, era um escritor iniciante incapaz de verter o desespero, fingido ou real, em literatura, e o que é pior – e comum – supunha que estar desesperado é necessário para escrever bem]. São tantas imbecilidades, que se não fosse o fino trato de humor dado por Vila-Matas ao texto, a coisa se tornaria um dramalhão vergonhoso.
O livro é recheado de episódios metaliterários, e dialoga diretamente com “Paris é uma festa”, de Ernest Hemingway, grande ídolo do narrador. Mas, "diferentemente de Hemingway," - explica o narrador, "que lá foi 'muito pobre e muito feliz', fui muito pobre e infeliz". Um dos episódios mais interessantes do livro, é uma hipótese levantada sobre o sentido de “Gato na chuva”, o impenetrável conto de Hemingway. Além disso, transitam por "Paris não tem fim" sujeitos como Roland Barthes, Borges, Perec, Beckett, entre outros.
Se bem me lembro, das minhas já empoeiradas leituras de filosofia, a fina ironia socrática destronava a seriedade da aristocracia grega, não a fim de destruir o outro, mas ascender o outro ao status “mais verdadeiro”. Vila-Matas, creio, ancora-se nessa estirpe de ironia. Procura a não-destruição de si, típica da ironia vulgar e tão comum nos nossos dias, mas a ironia como desvelamento de uma verdade.
Qual verdade?
Se na juventude, o alter-ego de Vila-Matas sonhava viver como Hemingway, nômade, boêmio, desesperado, ser um “escritor de verdade”, terminaria por ser tornar um sujeito agarrado à sua escrivaninha. O jovem que foi a Paris para se tornar “escritor de verdade” e cujo único aprendizado fora escrever à máquina.
Dentre todas as possíveis leituras, o livro é uma forte indicação a jovens autores [necessariamente imprudentes – e aqui coloco a carapuça], imbecis, que desejam ser “escritores de verdade”. “Paris não tem fim” serve como uma espécie de manual para demolir algumas ingenuidades, mas não leva a lugar-algum, senão talvez, a ironia:
“Não inventamos nada, acreditamos inventar quando na verdade nos limitamos a balbuciar a lição, os restos de alguns deveres escolares aprendidos e esquecidos, a vida sem lágrimas, tal como a choramos. E à merda”
“Não inventávamos nada? O narrador de Molloy estava certo quando dizia isso? E aprender? Também não aprendemos nada? Seriam, por exemplo, os tão desgastados e vívidos e tão prestigiosos anos de aprendizado de um escritor mera falácia? Vivíamos sem aprender nada e então, simplesmente, como diria Beckett, íamos à merda? Será que essa a única coisa que podíamos aprender neste mundo era que não inventávamos nada? O golpe de misericórdia me foi dado por Arrieta, presenteando-me com o romance Jakob von Guten de Robert Walser. Abri-o na primeira página, comecei a ler: 'Aqui se aprende muito pouco, faltam professores e nós, os garotos do Instituto Benjamenta, nunca chegaremos a nada, quer dizer, no dia de amanhã seremos todos pessoas muito modestas e subordinadas'
Bonito panorama.
Lembro de um dia de chuva, sentado na terraço do Café Rien de la Terre da rue Saint-Anne, em finais de janeiro de 1976, pensando no livro de Walser e me perguntando se não seriam realmente um falso mito os famosos anos de aprendizado.
'Aprendi algo sim, nos últimos anos, aprendi a escrever à maquina, isso é certo', disse a mim mesmo pouco antes de chamar o garçom, pagar a conta e abandonar aquele café e de passagem abandonar os anos de aprendizado. 'E à merda', lembro que pensei.” [Cap. 105. pág. 228]
19/12/2010
Paisagem com dromedário, Carola Saavedra
Prezado leitor: Paisagem com Dromedário, de Carola Saavedra (Companhia das Letras, 2010) é um romance existencial de ótima qualidade. Explico o existencial: é existencial não apenas pelo maneirismo da personagem Érika por aforismo e/ou reflexões obsessivas sobre “o sentido” maior da existência e/ou a falta de; é existencial não apenas por citar indiretamente reflexões da estética heideggeriana e/ou função e sentido da arte; é existencial não apenas por flertar (ainda que de forma tímida e distante), com A convidada de Simone de Beauvoir na questão do triângulo amoroso; é existencial não apenas por “dizer alguma”, construir ou desconstruir uma moral, o sentindo das relações humanas, o jogo do interno e externo e da atuação (da personagem que finge ser alguma coisa aos outros e carrega uma contradição explosiva dentro si, perdida na apropriação por encenação e na expectativa daquilo que outros esperam que ela seja); é existencial porque imprime uma marca em que lê; é existencial porque o leitor não sai impune da leitura.
Tenho que confessar que, antes de ler, esperava por uma leitura pesada(não pelo tema, mas pela estrutura). Quer dizer, um livro que é estruturado por um conjunto de 22 gravações, uma única personagem falando o tempo todo diretamente ao interlocutor (tipo: A queda, Camus), não chega a ser cansativo mas exige atenção redobrada. Mas no caso de Paisagem com dromedário, não foi caso disso. Carola Saavedra dosa perfeitamente os momentos de reflexão com os episódios (ou causos) que fazem o enredo avançar. Érika, a narradora, é uma ótima contadora de causos. O tom intimista vai nos envolvendo de uma forma muito prazerosa. Érika é daquele tipo de "pessoa" que se estiver do nosso lado numa longa viagem de ônibus, faz a viagem desaparecer; anos depois, não lembramos nem qual ônibus pegamos, de que cidade a qual cidade, mas nos lembramos da história e do jeito daquela pessoa falar.
Além do mais, o livro consegue tratar a questão do triângulo amoroso sem cair no lugar-comum; ora, isso não é fácil (ref: uma das mais belas cenas de ménage à trois que eu já li). Todo mundo já viu As horas, não é? Você deve estar lembrado da cena em que o marido de Virginia Woolf pergunta pra ela, algo como: “por que sempre há mortes nos seus livros? Por que sempre alguém tem que morrer?” Virginia responde: “É um contraste. Alguém morre para que outros possam viver.” A morte, a exclusão, é uma maneira de criar um fundo para vida. Em Paisagem com dromedário, Carola Saavedra utiliza uma solução semelhante no triângulo amoroso. Nesse tipo de relação, sempre alguém ficará excluído, é necessário que seja excluído; e essa exclusão é o contraste para que os outros dois se mantenham. A exclusão que traz equilíbrio. Toda negação é uma afirmação.
Não li os livros anteriores da Carola Saavedra, mas, mesmo antes de lê-los (coisa que pretendo fazer o mais rápido possível), já posso afirmar que estou diante uma grande escritora. É tão boa escritora que me fez suportar e relevar as referências heideggerianas. E isso não é pouca coisa.
E, aliás, nenhum silêncio é igual a outro.
*******
[ps: impressionante como há boas escritoras escrevendo e publicando hoje, não? quer dizer, não que exista tal coisa como "literatura feminina" e toda a discussão que isso envolve, enfim; mas, das que li até agora, destaco a Brisa Paim e a Carol Bensimon. Claro, há muito mais autoras, difícil é acompanhar tudo que é lançando e ler os clássicos ainda não lidos (tipo: os sete volumes de Guerra e Paz), e reler aqueles clássicos essenciais como Crime e Castigo ou Angústia. Mas, li os dois livros da Bensimon, lá pelo começo do ano, e gostei muito. Não comentei aqui na época da leitura, porque, sei lá, não tinha intenção de compartilhar minhas impressões de leituras por aqui. Mas recomendo muito Sinuca embaixo d'água. Bensimon trabalha com a narrativa fragmentada em múltiplos focalizadores, consegue construir uma prosa sofisticada e de senso estético depurado. Sem contar, que o Polaco, um dos personagens do livro, é tão pegajoso que dá saudade quando terminamos de ler. Sério, deu até vontade de escrever pra Bensimon e pedir que ela escrevesse uma novela só com o Polaco. ]
30/11/2010
A passagem tensa dos corpos, Carlos de Brito e Mello
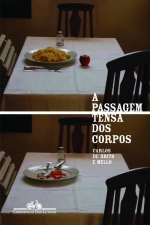 Desocupado leitor: tenho que lhe informar que o livro A passagem tensa dos corpos, Carlos de Brito e Mello (Cia das Letras, 2009), não deve passar em branco. O sr. Brito e Mello merece ocupar nosso tempo com a leitura de seu livro, construído à partir da premiação concedida pela Secretaria de Cultura do nosso sertão, Prêmio Minas Gerais de Literatura 2008, na categoria jovem escritor mineiro (quando essa categoria ia além dos vinte e cinco anos). A passagem tensa dos corpos esteve entre os finalista do Portugal Telecom 2010, no Prêmio São Paulo de Literatura 2010, categoria autor estreante, e Jabuti, na categoria romance. Para além do prêmio e indicações, devemos nos ocupar da leitura dessas 249 páginas, por se tratar de um livro de enredo bem criativo e de um trato especial com a linguagem.
Desocupado leitor: tenho que lhe informar que o livro A passagem tensa dos corpos, Carlos de Brito e Mello (Cia das Letras, 2009), não deve passar em branco. O sr. Brito e Mello merece ocupar nosso tempo com a leitura de seu livro, construído à partir da premiação concedida pela Secretaria de Cultura do nosso sertão, Prêmio Minas Gerais de Literatura 2008, na categoria jovem escritor mineiro (quando essa categoria ia além dos vinte e cinco anos). A passagem tensa dos corpos esteve entre os finalista do Portugal Telecom 2010, no Prêmio São Paulo de Literatura 2010, categoria autor estreante, e Jabuti, na categoria romance. Para além do prêmio e indicações, devemos nos ocupar da leitura dessas 249 páginas, por se tratar de um livro de enredo bem criativo e de um trato especial com a linguagem.
O sr. Brito e Mello utiliza-se de um narrador fantasma, inicialmente com caracteres de narrador testemunha, lançado numa cruzada à caça de óbitos pelo interior de Minas Gerais, para nomeá-los, catalogá-los, até que se vê preso ao fato inusitado de uma família atípica que amarra seu morto à mesa de jantar e não confere enterro ou quaisquer ritos de passagem. Sem os ritos de passagem, o morto não é morto, e não pode ser nomeado e apropriado pelo narrador através do discurso. Pelas características de narrador testemunha apresentadas no início, o leitor é levado a inferir que o narrador desencorporado irá narrar episódios dessa família perturbada(coisa que até o faz quando entediado, já que a ausência de enterro impede que o processo natural de nomear mortes avance, mesmo que o narrador continue catalogando outras mortes como se o óbito ignorado não fosse um impasse). Nesse momento o leitor fica meio confuso, por que se o morto sem enterro é um impasse, um conflito que prende o narrador àquela casa da enviuvada que não enviúva, da filha que destrincha revistas de noivas à procura de um noivo, do rapaz trancado no quarto, por que os óbitos continuam a ser catalogados? Isso talvez se explique em algum ponto da narrativa que tenha passado desapercebido desse leitor ou no próprio final, que claro, não vou revelar aqui, mas não deixa ser uma pequena confusão narrativa(a mim pelo menos escapou alguma justificativa mais forte para esse escorregão). Uma solução(penso) seria encarar as nomeações das mortes como flashbacks, mas como o narrador não dá nenhuma indicação que a nomeação das mortes posteriores ao encontro com morto amarrado à mesa de jantar sejam memórias, não sei se seria uma saída.
Apesar de apresentar características de uma narrativa absurda, não podemos enquadrá-lo num realismo fantástico ou pelo menos não à maneira de um Oswaldo França Júnior ou Rubião, por exemplo. Porque mesmo se tratando de uma espécie de fantasma ou morto, as justificativas para narrativa são por demais evidentes, por vezes filosóficas, metanarrativas e metaliterárias, explícitas demais, portanto, escapam à qualquer clima ou atmosfera de desconforto. A tensão do livro é uma tensão estética, uma tensão focada na linguagem em detrimento das personagens, elevando o papel da narrativa como construção de sentido(da própria narrativa) às suas últimas consequências. Através da narrativa o narrador fantasma literalmente toma corpo, assume materialidade. Essa é a tese que permeia toda à obra, é a partir dessa tese, por exemplo, que as frases são picadas, numa diagramação muito própria.
No meu gosto particular, a prosa poética num romance não deve sonorizar por sonorizar, pintar imagens como quem enfeita por enfeitar, como quem solta fogos de artifício numa segunda-feira de manhã, ou vai na padaria de sapato de salto, vestido longo vermelho fogo, a pasta de maquiagem escorrendo do rosto. A prosa poética, num romance, creio, deve sondar algo que não se compreende. Demonstrar tensão e desconforto. A linguagem deve assumir tons poéticos quando falamos daquilo que é turvo, nebuloso, daquilo que não compreendemos, daquilo que escapa à compreensão e não é passível de ser encaixotado numa prosa direta. Quando a prosa se vê no escuro de um beco sem saída, a poesia salta à frente e desvela.
Desvela seu próprio discurso autoconstitutivo, devorador de restos(deixa de ser um narrador testemunha e passa a narrar a si mesmo-discurso).
“Quando eu tiver uma cabeça, nela produzirei pensamentos inteiros”, nos diz o narrador. Quando tornar-se inteiro, não será mais necessário narrar, porque toda narrativa é recorte; quando o narrador se preenche por inteiro, a narrativa implode, cessa seu fluxo, deixa de existir.
"sou uma morte atualizada permanentemente pela palavra, que, mencionada
expressa que morro diariamente"
(...)
"sem o contorno ou a substância normais, faltarei a mim mesmo"
(...)
"o trabalho da língua é o que me mantém
na passagem tensa de um corpo
entre a morte, recolhendo dela o aspecto horrível, mas necessário"
A preocupação estilística é maior que a preocupação com as personagens, há quase ausência de conflitos, não há uma sondagem mais elaborada dessas figuras peculiares que prendem o morto à mesa de jantar, ou uma sondagem mais perturbadora da sua própria condição. Apesar dos fatos serem inusitados, falta transtorno. Isso é um pouco frustante, porque um leitor como eu sempre espera sair de um livro um pouco impregnado das suas personagens.
Mas, por favor, não se engane com meus pitacos, o livro é muito bom.
20/11/2010
68 contos de Raymond Carver: um elogio à Carver
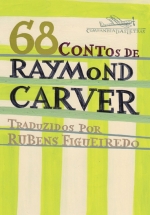
A leitura de 68 contos de Raymond Carver, tradução de Rubens Figueiro (Cia das Letras, 2010) tem sido das mais prazerosas. A introdução de Rodrigo Lacerda, que levanta a trajetória de Carver, desde as publicações em revistas literárias independentes, dificuldades para concluir sua formação, até a consagração, a relação com os editores, os cortes excessivos no texto, o estigma de minimalista, é sensacional. Principalmente para um caipira como eu, que chega tarde à obra e ao vasto universo de produção de um dos maiores contistas modernos.
Duas coisas me levaram até Carver. A epígrafe de Deixe o quarto como está (Cia das Letras, 2002) excelente livro do Amilcar Bettega, e a leitura de contos esporádicos, alguns na internet, outros da mão de amigos, em rápidas ocasiões. Nem por isso deixaram de me impressionar.
Chego a levantar a tese que, num único texto, podemos encontrar o eidos da verve literária de cada escritor, o tal do estilo. Como algo que perpassa toda a obra do autor e que por isso mesmo assume a nomenclatura de obra, como edifício, ou pirâmide, como diria Guimarães Rosa. Chego a levantar a hipótese de que em alguns casos, essa obra pode ser decomposta, pode ser decomposta como uma espécie de fractal. Sou levado apressadamente a pensar assim sobre a produção de Carver. Porque Visor me impressionou muito, e a cada conto que leio desses 68 contos, "Eu conseguia enxergar as menores coisas", "Por que não dançam?", "Você é médico?", "Penas", "Mecânica popular" só pra citar alguns, (ainda não li todos) sinto a mesma força narrativa daquela que senti ao ler Visor. Claro, um autor acaba se refazendo à medida que produz, cada vez que enfrenta um novo texto, não apenas o texto é outro, mas esse autor já é outro. Os desafios impostos a si mesmo são outros, a necessidade e os problemas daquela criação em particular são outros. Isso termina refletido no texto e, de certa forma, é essa intenção/resultado movediço que provoca a habitual divisão da obra de muitos escritores, esse é o caso de Carver, naquele dualismo costumeiro das duas fases. Geralmente uma fase de preparação, onde a prosa é incompleta; e uma fase de composição mais madura, apurada, supostamente impecável. Como se, de um dado momento em diante, o escritor atingisse o cume de sua formação, encontrasse uma espécie de graça ou truque infalível.
Não sei.
Carver me parece Carver em todos os contos que li até agora. Carver me parece Carver desde “Estações tempestuosas”, com longas descrições de ambientes, carregado de detalhes e ações, profundamente sensorial, cromático e sonoro; como se Carver desejasse “realmente” criar um ambiente, preencher todas as lacunas desse espaço, dar a justa medida de cada coisa; como se (aqui tenho que admitir a hipótese do escritor partido ao meio) o primeiro impulso do escritor criativo (diferente do escritor de impulso imitador ou impulso expressivo)*, fosse dar força objetiva à criação a partir desse realismo. Criar “realmente” um espaço de ficção. Cavar seus fundamentos, estruturas, compor cada detalhe. Claro, é algo impossível. Nenhum texto literário é capaz de emular a realidade em sua totalidade. Parafraseando um parco chavão/slogan de Sartre, todo escritor tenta ser uma espécie de Deus, criar um mundo capaz de prescindir desse mundo real; portanto, fracassa. Penso em Sartre equivocado; apesar desse aforismo soar bonito. Nem toda literatura parte dessa pretensão horrorosa. E muito menos nega in absoluto essa pretensão (o que dá no mesmo, já que o oposto, nada mais é, que outro lado da moeda daquilo que é negado). Afinal, uma negação ab aeterno do realismo, termina por ser uma fantasia real: o que é, necessariamente, o mais bizarro dos realismos.
Penso na obra de Carver composta a partir da estrutura dos fractais. Suponho um suposto Carver no ápice de sua criação, o Carver supostamente maduro, da segunda fase, assimilando essa estrutural fractal e compondo a partir dela. Suponho Carver numa epifania diante da realidade, compreendendo a realidade a partir da geometria fractal, suponho Carver efetuando recortes, arrancando lascas do real, gomos, criando a partir dessas lascas; ciente de que cada lasca comporta toda estrutura.
Não imagino Carver como mais um escritor partido ao meio. Vejo a mesma fissura, vejo essa ligação. Mas não suponho Carver como um monólito imóvel e imutável. Cada Carver é um Carver e no meu elogio à Carver, imagino o próprio Carver como um fractal.
----------
Escritor de impulso imitador: aquele que começa a escrever por imitação, geralmente de um autor ou gênero em particular.
Escritor de impulso expressivo: aquele que começa a escrever por certa necessidade de expressar-se, colocar pra fora, desabafar.
Escritor de impulso criativo: aquele que começa a escrever por necessidade da criação por si mesma, por fruição da criação.
13/11/2010
a morte de paula d. , Brisa Paim
Desde sete horas a chuva ameaça cair; pelo jeito, quando começar vai atravessar o resto do dia. Não olhei a previsão. Porque previsão, seja a cigana de braços peludos que me cerca na rua ou economista no GloboNews, sempre me dá medo. Tudo bem. Tomei dois ovos quentes e fui tratar do gato. Sem problemas. Fumei um cigarro espiando a massa cinzenta de nuvens acumulando-se detrás da serra, na linha do horizonte. Mas isso foi antes, agora, quando escrevo esse texto, por volta de nove e vinte, a chuva já chegou, troveja e a luz piscou duas vezes, talvez três. Mas não estou com medo, não tenho medo de trovões. Tédio me assusta mais. E não tenho tédio hoje, a pilha de livros está ali, na escrivaninha do lado cama; isso me conforta. Ontem à noite li “a morte de paula d.” da Brisa Paim (Edufal, 2009), e fui logo reler agora, antes de escrever esse texto. O livro venceu o Prêmio LEGO de Literatura 2007 e foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2010, na categoria autor estreante.
Que livro.
Acho difícil transmitir a sensação que senti ao percorrer às páginas de “a morte de paula d.”.
Desde a capa, a parte gráfica do livro é um elogio a estética. Olhando o livro assim, antes de ler, o primeiro impulso é folhear essas páginas negras do livro. Mas não faça isso, ou você vai perder o acender de luzes.
A pulsão poética, a voz narrativa aparentemente confusa, palavras que tentam representar um além aos pensamentos da personagem; o monólogo frenético, estremecido, repleto de perturbações; essa aparente confusão, esconde um cuidado extremo da autora de “a morte de paula d.”. Cada termo, palavra, incorpora uma função, tem sua necessidade de ser, de estar grafadas ali, daquela forma específica; é esse cuidado na construção que dá o ritmo impecável do livro. Cada efeito é medido. Ao subverter à pontuação e demais elementos de uma narrativa convencional, Brisa Paim propõe um clima, o clima de paula d.; misto de epifania e náusea que vai culminar no abandono dos outros e de si, num círculo de fuga que tende à um beco sem saída. Não vemos aquele tipo de prosa da expressividade descuidada. E por esses efeitos calculados, a construção do livro se impõe como objeto estético, nos estremece os sentidos. Uma construção, no intuito e apuração, quase cabralina.
O ritmo é o mecanismo usado pela autora para ordenar o caos interno da personagem, ou pelo menos, o esforço em ordená-lo da única forma possível, já que o sentir ultrapassa qualquer representação:
"às vezes eu me sinto analfabeta eu também"
"todo mundo fala eu queria ao invés de eu quero"
"às vezes eu me sinto analfabeta eu também"
"todo mundo fala eu queria ao invés de eu quero"
O laço que amarra o leitor nessa história, é esse mesmo ritmo, é através da fruição do ritmo que atingimos a fruição da obra. Somos arrebatados como numa reza ou mantra. Se Brisa Paim parte de formas já usadas, como Beckett e Hilda Hilst, o fluxo de livre consciência, parte com consciência literária apurada. Emula essas vozes para saltar à frente com uma voz própria, autoral e profundamente encantadora.
Vale visitar o site da autora e dar uma espiada: www.palavrapouca.com
*
Agora, não chove mais. Os livros estão ali. Folheando “A passagem tensa dos corpos”, descobri uma referência à Luminárias, na pág. 16. Mas é coisa para um outro post.
*******
10/11/2010
O paraíso é bem bacana, André Sant'Anna
O mané aqui, esse que escreve neste blog, poderia dizer que não gostou do “O paraíso é bem bacana”, André Sant'Anna ( Companhia das Letras, 2006)
Mas não.
Eu não sou índio, não. Não sou bebo. Eu prometo.
Mas não.
Eu não sou índio, não. Não sou bebo. Eu prometo.
Mas não.
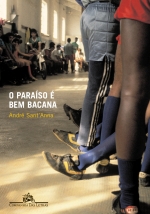 O mané, esse que escreve neste blog, poderia dizer que, do meio do livro até próximo do fim, a ausência de descrições e o uso de sumários minimalistas, o modo de narrar através depoimentos e diálogos, força o autor a bombardear a narrativa de episódios (como forma de gradação do conflito). E que a essa altura da narrativa, muitos desses episódios tornam-se desnecessários, porque repetem coisas que o mané, leitor, já sabe; força a dilatação dos diálogos, reiterações monótonas de coisas que o leitor, mané, já sabe; como força a dilatação dos fluxos de pensamento do Mané (personagem central) que, muitas vezes, tornam-se repetitivos ou apenas vêm corroborar algo que o leitor, mané, já sabe. Além desse leitor sentir,algumas vezes, que o Mané como personagem, é quase um experimento psicológico de pulsão unívoca e sem muita complexidade.
O mané, esse que escreve neste blog, poderia dizer que, do meio do livro até próximo do fim, a ausência de descrições e o uso de sumários minimalistas, o modo de narrar através depoimentos e diálogos, força o autor a bombardear a narrativa de episódios (como forma de gradação do conflito). E que a essa altura da narrativa, muitos desses episódios tornam-se desnecessários, porque repetem coisas que o mané, leitor, já sabe; força a dilatação dos diálogos, reiterações monótonas de coisas que o leitor, mané, já sabe; como força a dilatação dos fluxos de pensamento do Mané (personagem central) que, muitas vezes, tornam-se repetitivos ou apenas vêm corroborar algo que o leitor, mané, já sabe. Além desse leitor sentir,algumas vezes, que o Mané como personagem, é quase um experimento psicológico de pulsão unívoca e sem muita complexidade.Mas não.
O mané aqui gostou demais do livro. Gostou dos personagens. Se divertiu com Uéverson. Sentiu raiva do Levi filha-da-puta. Ficou com pena do Mané, Muhammad Mané, vibrou com os gols, sofreu com o Mané. O mané aqui, admirou a genelialidade de André Sant'Anna ao recriar um espaço uterino: com uma televisão preto branco, a chuva no telhado do barraco, cheiro de cigarro.
O mané aqui gostou demais da história. Porque, apesar dos "problemas", como todo livro tem problemas, “O paraíso é bem bacana” é um livro muito bem narrado e muito bem amarrado. E, ao contrário do que acontece em muitos textos por aí, a abordagem escatológica, em “O paraíso é bem bacana” não é nem um pouco gratuita. Consegue se firmar sem cair no choramingo e numa suposta e ingênua transgressão. Além de tudo, talvez um dos elementos mais fascinantes do livro, a forma como André Sant'Anna conduz o leitor na construção de uma linguagem a partir da opressão, é sensacional.
O mané, leitor, poderia ler só esse livro do André Sant'anna, porque é um livraço.
Mas não.
O mané vai ler "Sexo e Amizade" (Companhia das Letras, 2007)
04/11/2010
Bartleby e companhia, Enrique Vila-Matas
Profundamente abalado pela leitura dessas notas de rodapé de um texto invisível: Bartleby e companhia, Vila-Matas (Cosac Naify, 2004).
Tudo bem, é um daqueles livros sobre escritores e para escritores, ou para leitores com aquela paciência para metaliteratura. Se você não tiver paciência para essas conversas de sala de estar da literatura, não recomendo (apesar que a habilidade narrativa de Vila-Matas em passar do erudito ao cômico, do desespero à piada, e vice-versa, garante a leveza da leitura). Li de uma sentada.
Tudo bem, é um daqueles livros sobre escritores e para escritores, ou para leitores com aquela paciência para metaliteratura. Se você não tiver paciência para essas conversas de sala de estar da literatura, não recomendo (apesar que a habilidade narrativa de Vila-Matas em passar do erudito ao cômico, do desespero à piada, e vice-versa, garante a leveza da leitura). Li de uma sentada.
O livro é narrado em primeira pessoa por um sujeito corcunda, feio, que publicou um romancezinho sobre a impossibilidade do amor e ficou vinte e cinco anos sem conseguir escrever. Os capítulos são organizados como um diário, cheio de citações, é quase um tumblr desses mais cults.
Bartleby e companhia é um livro sobre não escrever um livro. Sobre a pulsão negativa da escrita, a síndrome de Bartleby(preferiria não fazer); a caça desse solitário sujeito por bartlebys; um minucioso e divertido inventário sobre escritores reais e inventados que abandonaram à escrita ou que nunca escreveram; sobre escritores que passaram pela vida assombrados pelo grande livro que nunca foram capazes de escrever, escritores que rejeitaram a própria obra, que isolaram-se do mundo, escritores obcecados pelo silêncio e pela incapacidade das palavras em transmitir qualquer coisa.
Contudo, uma investigação sobre o não escrever é, fundamentalmente, uma investigação sobre o escrever, sobre o porquê da literatura, sobre por que escrever: “o normal é ler”, e escrever é meio que o desvio. Nada melhor que organizar o livro nas citações; nada melhor para evitar (sem evitar) a escrita do que a citação e o comentário. A citação é aquilo que permite estar próximo da escrita e ainda sim negá-la, afinal:
citar é quase escrever, sem escrever;
comentar é escrever, quase sem escrever.
citar é quase escrever, sem escrever;
comentar é escrever, quase sem escrever.
28/10/2010
Um leve estudo sobre “Estudos sobre a leveza”.
Não me recordo como e nem quando conheci o Fernando de F. L. Torres.
Suponho, naquele momento que me escapa qual seja, algum comentário retuitado por outro no twitter ter me chamado atenção e eu ter chegado ao seu perfil, ter caído no seu blog numa dessas pesquisas no google no meio da madruga; ou talvez, por sua resenha de Areia nos Dentes, na Copa de Literatura 2009. Não sei exatamente como foi; só sei que, num dado momento, estávamos trocando e-mails. Coisas do mundo muderno.
 Nesse tempo(final de 2009), falou-me que preparava um livro de contos, esse que acabei de reler hoje: Estudos sobre a leveza, lançado pela Editora Multifoco em fevereiro de 2010. O livro é composto por vinte e dois contos, que vão da construção neorealista ao tom fabular. Contos breves, subtextos bem trabalhados e leitura fluente. O estudo do título, é um estudo do autor sobre a natureza da narrativa. Um exercício de composição. Um aprendizado. O próprio F. L. Torres, consciente de seus limites e do objetivo de seu projeto literário, salienta numa entrevista ao blog Na Ponta do Lápis: “encarar a empreitada de escrever o primeiro livro como estudo é uma forma se colocar em uma posição de humildade que eu acho necessária”. Por outro lado, o estudo se refere aos próprios personagens, a seus conflitos, naquele modo de estudo velado que a narrativa, e apenas a narrativa, é capaz de proporcionar.
Nesse tempo(final de 2009), falou-me que preparava um livro de contos, esse que acabei de reler hoje: Estudos sobre a leveza, lançado pela Editora Multifoco em fevereiro de 2010. O livro é composto por vinte e dois contos, que vão da construção neorealista ao tom fabular. Contos breves, subtextos bem trabalhados e leitura fluente. O estudo do título, é um estudo do autor sobre a natureza da narrativa. Um exercício de composição. Um aprendizado. O próprio F. L. Torres, consciente de seus limites e do objetivo de seu projeto literário, salienta numa entrevista ao blog Na Ponta do Lápis: “encarar a empreitada de escrever o primeiro livro como estudo é uma forma se colocar em uma posição de humildade que eu acho necessária”. Por outro lado, o estudo se refere aos próprios personagens, a seus conflitos, naquele modo de estudo velado que a narrativa, e apenas a narrativa, é capaz de proporcionar.Na orelha, Eric Novello propõe a existência de uma matéria abstrata como origem dessas breves narrativas: ideias, a matéria sem peso. Segundo Novello, posteriormente, essas ideias, encarnadas em situações concretas, encorporadas por personagens jogados às peripécias e conflitos, causariam aquele eco no leitor. É uma hipótese interessante, senão pelo caráter mediúnico dos personagens em transmitir supostas “mensagens”.
Não creio que a leveza do estudo ao qual se propõe F. L. Torres, ou melhor, o livro, venha estritamente do mundo das ideias. A leveza aqui, é de outra natureza. A leveza é gerada em outro reino. Escolhi um dos contos para tentar explicar meu ponto de vista.
No conto “Inesperado Gol”, narrado em terceira pessoa, André M., um cineastra fracassado, executa o trabalho de investigar rolos de películas de um empresário morto, “cuja vida pouco teria de interessante”. O ambiente é um “frigorífico que funcionava apenas para conservar os filmes, e onde era o antigo escritório comercial, foi feita uma pequena sala de cinema. (…) Nos primeiros dias percebeu, que o milionário havia comprado todo e qualquer filme que lhe aparecesse (...) Descobriu, obviamente, rolos de filmes que, para muitos, estavam perdidos.” Meses de investigação, não sabemos quantos, agora debruçado sobre fragmentos de filmes, pedaços de programas televisivos antigos sem qualquer marca ou identificação, André M. se depara com um filme cuja inscrição exterior, “Belíssimo gol na rua Javali”, desperta-lhe um interesse especial. Supõe ser o famoso gol de Pelé (aliás, o conto tem 10 parágrafos), aquele gol de Pelé que, conforme a lenda, seria o mais bonito de todos e fora destruído em um incêndio na TV Record. A partir daí, o sumário narrativo apresentado até então dá lugar a cena final, onde André M, e o leitor através dele, assiste ao filme.
A breve descrição do gol, apresenta visualidade, vemos o filme, estamos ali, sozinhos naquele frigorífico, diante da tela que abre um espaço dentro do espaço da narrativa. Quem é o autor do gol? Um anônimo. Um menino que corre para câmera e pede o filme. É o grande personagem do conto que, nesse breve momento de glória, aparece de forma inesperada e representa, com leveza e profundidade, quão efêmero é uma conquista, um momento de glória pessoal. Enlatados, arquivados, esquecidos, abandonados. Os momentos valem o momento, valem na medida que são.
Registrar o momento, extensão do imperativo viver intensamente, é uma das obsessões humanas mais recorrentes. Na nossa época, em particular, não basta viver. É preciso registrar a vivência, exibir essa vivência; onde a profissão do saudoso retratista que confeccionava books de formaturas e porta-retratos foi substituída por câmeras caseiras de baixo custo, uma jovem adolescente possui mais fotos de si que todo sua geração familiar. Uma foto para cada momento especial ou banal. A foto pela foto. Para onde vão esses registros? De que servem? Qual seu sentido? O gol mais bonito de Pelé, entregue as chamas, esquecido. Essas são possíveis investigações que a breve narrativa nos sugere. Ou pelo menos a mim, sugeriu.
Sugere ainda, reflexão sobre a seleção histórica. Uma espécie de acaso demoníaco que escolhe o que permanece, e o que é levado ao limbo. Pensei talvez, em investir sobre os intuitos do autor ao promover um registro narrativo, mas não é caso disso. Ficaria massante e suponho não ter competência para tal.
O que não é massante, é a leitura do livro. Como num jogo, esses vinte e dois contos, são vinte e dois jogadores. Ligam-se entre si, por um tom, por estilo, justificam sua presença por essa ligação, do jogo do autor contra a palavra, o jogo da construção ficcional. Cada um deles nos propõe uma charada, porque, a leveza desses Estudos sobre a leveza, está na consciência literária, construção bem feita; em saber construir, não apenas narrativas de superfície, mas as narrativas de fundo, que, como um gol inesperado, nos pega de surpresa.
*******
Fernando de F. L. Torres é advogado e escritor. Colabora nas revistas Aguarrás e Mundo Mundano. Estudos sobre a leveza é seu primeiro livro. Bloga em http://arlequinal.com.br/
Twitter: @novasvisoes
Estudos sobre a leveza
contos
Editora Multifoco, 2009
ISBN: 978-85-7961-066-0
Assinar:
Postagens (Atom)