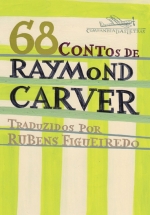Desocupado leitor: tenho que lhe informar que o livro A passagem tensa dos corpos, Carlos de Brito e Mello (Cia das Letras, 2009), não deve passar em branco. O sr. Brito e Mello merece ocupar nosso tempo com a leitura de seu livro, construído à partir da premiação concedida pela Secretaria de Cultura do nosso sertão, Prêmio Minas Gerais de Literatura 2008, na categoria jovem escritor mineiro (quando essa categoria ia além dos vinte e cinco anos). A passagem tensa dos corpos esteve entre os finalista do Portugal Telecom 2010, no Prêmio São Paulo de Literatura 2010, categoria autor estreante, e Jabuti, na categoria romance. Para além do prêmio e indicações, devemos nos ocupar da leitura dessas 249 páginas, por se tratar de um livro de enredo bem criativo e de um trato especial com a linguagem.
Desocupado leitor: tenho que lhe informar que o livro A passagem tensa dos corpos, Carlos de Brito e Mello (Cia das Letras, 2009), não deve passar em branco. O sr. Brito e Mello merece ocupar nosso tempo com a leitura de seu livro, construído à partir da premiação concedida pela Secretaria de Cultura do nosso sertão, Prêmio Minas Gerais de Literatura 2008, na categoria jovem escritor mineiro (quando essa categoria ia além dos vinte e cinco anos). A passagem tensa dos corpos esteve entre os finalista do Portugal Telecom 2010, no Prêmio São Paulo de Literatura 2010, categoria autor estreante, e Jabuti, na categoria romance. Para além do prêmio e indicações, devemos nos ocupar da leitura dessas 249 páginas, por se tratar de um livro de enredo bem criativo e de um trato especial com a linguagem.
O sr. Brito e Mello utiliza-se de um narrador fantasma, inicialmente com caracteres de narrador testemunha, lançado numa cruzada à caça de óbitos pelo interior de Minas Gerais, para nomeá-los, catalogá-los, até que se vê preso ao fato inusitado de uma família atípica que amarra seu morto à mesa de jantar e não confere enterro ou quaisquer ritos de passagem. Sem os ritos de passagem, o morto não é morto, e não pode ser nomeado e apropriado pelo narrador através do discurso. Pelas características de narrador testemunha apresentadas no início, o leitor é levado a inferir que o narrador desencorporado irá narrar episódios dessa família perturbada(coisa que até o faz quando entediado, já que a ausência de enterro impede que o processo natural de nomear mortes avance, mesmo que o narrador continue catalogando outras mortes como se o óbito ignorado não fosse um impasse). Nesse momento o leitor fica meio confuso, por que se o morto sem enterro é um impasse, um conflito que prende o narrador àquela casa da enviuvada que não enviúva, da filha que destrincha revistas de noivas à procura de um noivo, do rapaz trancado no quarto, por que os óbitos continuam a ser catalogados? Isso talvez se explique em algum ponto da narrativa que tenha passado desapercebido desse leitor ou no próprio final, que claro, não vou revelar aqui, mas não deixa ser uma pequena confusão narrativa(a mim pelo menos escapou alguma justificativa mais forte para esse escorregão). Uma solução(penso) seria encarar as nomeações das mortes como flashbacks, mas como o narrador não dá nenhuma indicação que a nomeação das mortes posteriores ao encontro com morto amarrado à mesa de jantar sejam memórias, não sei se seria uma saída.
Apesar de apresentar características de uma narrativa absurda, não podemos enquadrá-lo num realismo fantástico ou pelo menos não à maneira de um Oswaldo França Júnior ou Rubião, por exemplo. Porque mesmo se tratando de uma espécie de fantasma ou morto, as justificativas para narrativa são por demais evidentes, por vezes filosóficas, metanarrativas e metaliterárias, explícitas demais, portanto, escapam à qualquer clima ou atmosfera de desconforto. A tensão do livro é uma tensão estética, uma tensão focada na linguagem em detrimento das personagens, elevando o papel da narrativa como construção de sentido(da própria narrativa) às suas últimas consequências. Através da narrativa o narrador fantasma literalmente toma corpo, assume materialidade. Essa é a tese que permeia toda à obra, é a partir dessa tese, por exemplo, que as frases são picadas, numa diagramação muito própria.
No meu gosto particular, a prosa poética num romance não deve sonorizar por sonorizar, pintar imagens como quem enfeita por enfeitar, como quem solta fogos de artifício numa segunda-feira de manhã, ou vai na padaria de sapato de salto, vestido longo vermelho fogo, a pasta de maquiagem escorrendo do rosto. A prosa poética, num romance, creio, deve sondar algo que não se compreende. Demonstrar tensão e desconforto. A linguagem deve assumir tons poéticos quando falamos daquilo que é turvo, nebuloso, daquilo que não compreendemos, daquilo que escapa à compreensão e não é passível de ser encaixotado numa prosa direta. Quando a prosa se vê no escuro de um beco sem saída, a poesia salta à frente e desvela.
Desvela seu próprio discurso autoconstitutivo, devorador de restos(deixa de ser um narrador testemunha e passa a narrar a si mesmo-discurso).
“Quando eu tiver uma cabeça, nela produzirei pensamentos inteiros”, nos diz o narrador. Quando tornar-se inteiro, não será mais necessário narrar, porque toda narrativa é recorte; quando o narrador se preenche por inteiro, a narrativa implode, cessa seu fluxo, deixa de existir.
"sou uma morte atualizada permanentemente pela palavra, que, mencionada
expressa que morro diariamente"
(...)
"sem o contorno ou a substância normais, faltarei a mim mesmo"
(...)
"o trabalho da língua é o que me mantém
na passagem tensa de um corpo
entre a morte, recolhendo dela o aspecto horrível, mas necessário"
A preocupação estilística é maior que a preocupação com as personagens, há quase ausência de conflitos, não há uma sondagem mais elaborada dessas figuras peculiares que prendem o morto à mesa de jantar, ou uma sondagem mais perturbadora da sua própria condição. Apesar dos fatos serem inusitados, falta transtorno. Isso é um pouco frustante, porque um leitor como eu sempre espera sair de um livro um pouco impregnado das suas personagens.
Mas, por favor, não se engane com meus pitacos, o livro é muito bom.