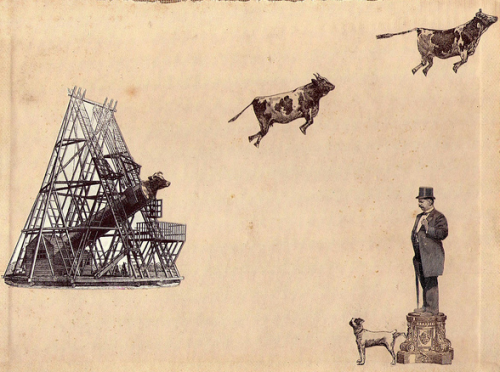O nosso time só perdia. Com sorte, arrancava um empate. Mas, pela primeira vez, a gente tava numa final. E eu que tinha que marcar o cara.
O cara era o melhor jogador do campeonato. Todo mundo falava que a gente ia levar uma sapatada.
O cara era o camisa sete, truncado, fortão mesmo. Corria feito um condenado.
Eu olhava o cara chutar a bola do outro lado da quadra e quando a bola batia na parede do ginásio parecia um trovão. Minhas pernas tremiam, porque eu tinha que marcar o cara.
Eu lembrava do Zé Antônio me chamando no canto, um pouco antes, ali no vestiário, quando eu nem tinha colocado o meião e o tênis, molhado o cabelo, vestido o uniforme, combinado umas jogadas e a gente nem tinha rezado, não tinha feito nada ainda; e o Zé Antônio me chamou no canto, mexeu nos óculos, sério, disse que eu tinha que marcar o cara, ir aonde o cara fosse, não podia, de jeito nenhum, dar espaço pro cara. Não podia deixar o cara chutar, não podia deixar a bola chegar no cara, não podia deixar o cara passar. Eu tinha que marcar o cara.
E eu era o cara mais magro do meu time. E eu tinha que marcar o cara.
O cara era o artilheiro do campeonato, uns oito gols à frente do segundo, e diziam que o cara tinha até passado na peneira do América, ia virar profissional, o cara. No futebol de campo o cara era ainda mais largo que no futsal. O cara era fodão mesmo, e eu tinha que marcar o cara.
Uma menina, que eu gostava, tava sentada na arquibancada, e eu tinha que marcar o cara.
Eu tinha assistido a outra semi-final. O time do cara ganhou de goleada, sem qualquer dificuldade, com quatro gols do cara. O cara pedalava pra caralho, e naquele tempo pedalada nem chamava pedalada, e eu tinha que marcar o cara.
O Henrique, que era maiorzão, que devia marcar o cara. Eu era miúdo demais pra marcar o cara. Mas o Zé Antônio, sei lá por que, confiava em mim (talvez, fosse uma estratégia secreta, me manter longe da bola, com a qual eu não tinha lá muita intimidade, e evitar um mal maior), e afinal, eu ia fazer o quê?
Eu que tinha que marcar o cara.
Futsal você sabe como é. Soltou a bola é só correria. Os quatro jogadores com a posse de bola girando na quadra e a bola girando muito rápido de pé em pé, enquanto os quatro jogadores sem a bola ficam cercando, fechando os espaços, colados cada um num cara. Eu tava sempre colado no cara, eu não podia largar do cara.
Eu era a sombra do cara.
Quando a bola vinha pra ele, eu dava o que tinha, puxava a camisa, empurrava, enroscava nas pernas dele, saraivava as canelas do cara, chapiscava umas voadoras disfarçadas e o cara caía, reclamando; o cara levantava os braços e pedia falta, o treinador do cara reclamava, o banco de reservas do time do cara se levantava, mas era sempre na bola que eu ia, quase nunca era falta. O juiz olhava pra mim, ali no chão, enroscado no cara, e entendia, claro, que era sem maldade nenhuma, eu tinha que marcar o cara e só tava tentando marcar o cara. O juizão mandava o jogo correr e o cara ficava puto.
O juizão apitou o intervalo e nosso time tava bem empolgado. Embora o time do cara tivesse ficado com a bola a maior parte do tempo, o jogo tava bem jogado. O nosso time tava fechadinho, marcando no campo de ataque, deixando o time do cara sempre sob pressão e sem ter pra onde passar a bola. E tudo bem que o nosso time tivesse muita dificuldade em trabalhar as jogadas e finalizar. Eu, por exemplo, não finalizava nada. Meu negócio era desarmar, meu negócio era marcar o cara e eu só pensava em marcar o cara. O Henrique também pouco finalizava. Chutava forte pra caralho, mas nunca acertava o gol. Os nossos gols sempre vinham em contra-ataques rápidos, em que o Kiko, goleirão, lançava o Rodrigo ou o Enio numa jogada mano a mano com o fixo deles, caindo nas costas de um dos alas, ou mesmo cara a cara com o goleiro. Uma hora vai acontecer, o negócio é segurar. Futebol é detalhe, disse o Zé Antônio, ganha quem erra menos.
Não pode dar espaço pro cara.
Eu tava com as pernas frouxas, os joelhos esfolados e a parte externa da coxa queimada de tanto sarrafiar o cara, de tanto correr atrás do cara, de tanto rodar em volta daquela quadra atrás do cara.
Quando eu me deitei no chão do vestiário, bufando, com o peito ardendo (tinha bebido uns dois litros de rum com coca na noite anterior), e disse que talvez não aguentasse o segundo tempo, que eu tava morto, o Zé Antônio, que me abanava com a camiseta, disse que eu tinha que voltar, que eu precisava marcar o cara, que não tinha ninguém pra marcar o cara.
Eu enfiei a cabeça e as costas debaixo do chuveiro e fui me refrescando e bebendo aquela água ao mesmo tempo. A sede era terrível. Minhas pernas ardiam e queimavam. O Zé Antônio batia palmas e gritava, pedia raça, vigor, força de vontade, o escambau. Lá debaixo do chuveiro e disse que eu tava morto, que tava foda, que não sabia se ia dar. O Kiko, goleirão nosso, chegou no canto do chuveiro e disse: “Tá zoando, mano? Cê tem que voltar lá. Cê tem que marcar o cara”.
Eu precisava voltar, eu tinha que marcar o cara.
O time do cara voltou dando um gás desgraçado na gente. Foi a maior pressão no nosso goleiro. Bombardearam o Kiko naquele começo de segundo tempo, sem dó nem piedade. Eles colocaram dois jogadores descansados, dois baixinhos magrelos, e começaram a girar na quadra numa velocidade tenebrosa, tava complicado de acompanhar, e quando a gente dava uma lebrechina que fosse, chutavam com tudo pra gol. O Kiko rebatia, espalmava pra cima, saltava de um lado pro outro, defendia com o pé, canela, de barriga, cotovelo, cabeça ou só no golpe de vista, fosse o que fosse, mas nunca perdia a tranquilidade. Só pedia pra gente colar nos caras e a gente colava nos caras. Era foda, mas a gente se esforçava como podia pra ficar colado nos caras.
Continuei saraivando o cara. Mas o cara era fodão. E numa hora, ele investiu pra cima de mim, pedalando com uma precisão impressionante. Acho que fiquei meio hipnotizado, com as pernas girando e falseando na minha frente, feito a boca de uma colheitadeira girando na vertical, e foi aí, que meio afoito, antecipei o tempo do bote, e só me lembro da bola escorrendo entre as minhas pernas - em câmera lenta, enquanto minha coluna travava.
Foi uma bela de uma caneta, o cara era mesmo fodão.
Mas eu não podia dar espaço pro cara. Não deixei ele completar o drible. Apoiei a mão no chão e lasquei uma rasteira giratória, na bola, e ele voou no chão, meio de lado e de bruços. Falta, apitou o juiz, e ergueu o cartão amarelo pra mim. A torcida vaiou. Mas o cara não se deu por satisfeito e disparou a reclamar de mim, a reclamar do juizão, a reclamar sem parar. Levou cartão também, e ficou mais puto ainda.
Eu não podia fazer nada, eu só tava marcando o cara.
Lembro que a jogada começou num lateral nosso, no ataque. O Enio tentou partir pra cima e se enroscou com a bola, acabou cedendo lateral pra eles. Eu tava colado no cara. Eu era a sombra do cara. Mas do nada eles giraram na quadra, invertendo o posicionamento. Numa confusão, dúvida, vacilação, entre eu e o Rodrigo, entre quem marcava quem, o Rodrigo ficou no cara e eu parti atrás de outro cara. O cara sobrou sozinho e meteu um foguete no canto, sem chance nenhuma do Kiko alcançar.
Olhei pro nosso banco de reservas na mesma hora. Lembro da cara desolada do Zé Antônio. Mesmo que ele não tenha dito nada, eu entendi que a culpa era minha, porque eu devia ter colado no cara, não podia dar espaço, não podia deixar a bola chegar no cara. Eu tinha que marcar o cara.
O nosso time não finalizava. Naquele nervosismo, muito menos. O Zé Antônio pediu tempo e disse pra gente acalmar, que não era pra desembestar pra frente, não era pra apavorar. O negócio era continuar prestando atenção na marcação e aproveitar os contra-ataques. Agora o time deles ia vir pra cima, pra tentar matar o jogo. Iam abrir espaços pra gente.
Dito e feito.
Num desses contra-ataques, o Henrique acabou saindo sozinho na ala esquerda, e o cara, que também tava nervoso, veio com excesso de vontade e levantou o Henrique uns dois metros de altura com uma saraivada. O cara já tinha amarelo, o cara foi expulso. A torcida vaiou o cara. O técnico do cara xingou o cara. O cara arrancou a camisa, bateu a porta do vestiário. Coitado do cara.
Eu senti um alívio desgraçado, feito um fardo que me fosse roubado, um peso que saísse da consciência. Não precisava mais marcar o cara. Estava livre, não havia a imposição de perseguir o cara, de não deixar a bola chegar no cara, de não dar espaço pro cara, nem nada.
Eu podia marcar qualquer cara.
Estranhei aquela promiscuidade da marcação por setor, cada hora marcando um cara, cada hora atrás de um cara, colado num cara diferente a cada saída do goleiro, escanteio, lateral. Fiquei meio perdido na quadra, me sentia obsoleto, abandonado. Eu era a sombra do cara, e sem o cara, eu não era nada.
Cumpria a função de colar nos outros caras, cercar aqui e ali, mas era meio burocrático, não era a mesma coisa. Aquele clima de missão, combate, batalha, tinha evaporado.
E nem o gol de empate do Henrique, que nunca acertava uma falta, e a torcida vibrando e gritando, o nosso banco pulando e todo mundo se abraçando, espantou a confusão.
O time deles não era nada sem o cara. O Enio partiu numa investida, pedalou, e provocou outra falta. E vocês não acreditam que o Henrique, que nunca acertava, acertou aquela outra falta também. Dia estranho aquele.
Daí, foi só administrar o placar e comemorar depois. Até entrevista pra rádio local a gente deu. Ainda tenho a medalha desse campeonato perdida em alguma gaveta, meio escurecida. II JAEL-Jogos Abertos e Estudantis de Luminárias-MG, Infanto-Juvenil, Campeão.
No barzinho lá da praça, mais tarde, eu vi o cara no balcão. Cheguei perto dele e ofereci um gole de rum. O cara bebeu e me cumprimentou, disse que eu batia pra caralho. Que nada, eu disse, mas que um cara assim, como ele, se a gente desse bobeira, já era. Disse que ele era o melhor cara que eu tinha marcado na vida. O cara sorriu, e disse que a gente se encontrava por aí.
Lembro que vi ele saindo do bar, pegando na mão de uma mocinha do cabelo pretinho e saindo pela rua afora. E eu pensei comigo, tá aí um cara fodão.
Num canto da praça, os caras, com a medalha no peito, me esperavam, pra gente comprar mais uma garrafa de rum.